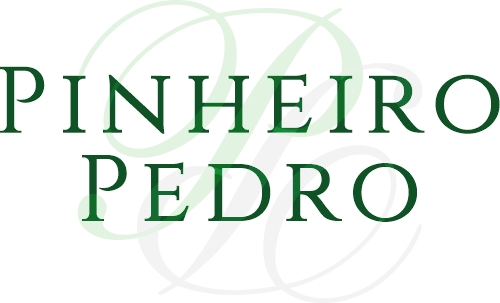CONFERÊNCIA DAS PARTES DA CONVENÇÃO QUADRO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE MUDANÇA DO CLIMA
Por Antonio Fernando Pinheiro Pedro
1. NOTAS INTRODUTÓRIAS. 2. A TRIPLA RESPONSABILIDADE. 3. A RESPONSABILIDADE CIVIL DA PESSOA JURÍDICA. 4. A RESPONSABILIDADE PENAL DOS ADMINISTRADORES GERENTES E CONTRATADOS. 5. A RESPONSABILIDADE PENAL DA PESSOA JURÍDICA. 5.1. Delito formal ou não? 5.2. O que seria “potencialmente poluente” para a lei penal? 5.3. As diferentes sanções e a finalidade da sanção penal. 5.4. A conduta do agente como elemento do crime. 5.5. Circunstâncias objetivas a serem analisadas. 6. STJ PERMITE QUE A PESSOA JURÍDICA RESPONDA POR CRIME AMBIENTAL.
1. NOTAS INTRODUTÓRIAS (1)
A pessoa jurídica poderá ser processada criminalmente por conduta lesiva ao meio ambiente.
Com o advento da Lei nº. 9.605 de 13 de fevereiro de 1998, o panorama do direito brasileiro mudou definitivamente, ao dispor sobre a possibilidade de criminalização da conduta da pessoa jurídica, e, inovar a forma de apenamento às condutas danosas ao meio ambiente.
Sancionada em meio a muitas críticas de setores ambientalistas, sofreu trinta e sete cortes e modificações efetuadas por emendas supressivas na Câmara dos Deputados, e dez vetos presidenciais, a Lei que dispõe sobre Crimes e Infrações Administrativas contra o Meio Ambiente resultou em um texto enxuto, porém, sujeito a interpretações confusas e dependente de regulamentação em alguns casos, dificultando sua imediata implementação e conseqüente adaptação pelas empresas.
A Lei nº. 9.605/98 dispôs sobre questões processuais em meio a normas substantivas, isto é, que tratam da tipificação das infrações, fato que revela descuido com a boa técnica legislativa. Seu texto, também, deixa dúvidas quanto à sua aplicabilidade e alcance, razão pela qual é recomendável a leitura atenta pelos interessados.
No entanto, como uma abordagem introdutória, se faz necessário o questionamento sobre a questão da responsabilidade dos dirigentes e funcionários da empresa, sua responsabilidade civil, para depois, adentrarmos a questão da responsabilidade penal das empresas, enquanto pessoa jurídica.
2. A TRIPLA RESPONSABILIDADE.
A Constituição Federal de 1988 consagrou expressamente, a possibilidade de aplicar as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente, sujeitas aos infratores, pessoas físicas ou jurídicas, as sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. (2)
Disposição consagrada também dentro do Capítulo da Ordem Econômica e Financeira, prevendo a possibilidade “sem prejuízo da responsabilidade individual dos dirigentes da pessoa jurídica, estabelecerá a responsabilidade desta, sujeitando-a às punições compatíveis com sua natureza, nos atos praticados contra a ordem econômica e financeira e contra a economia popular. (3)
A Lei de Crimes Ambientais foi criada em conformidade com os dispositivos Constitucionais, e inseriu nas suas “Disposições Gerais” as hipóteses de responsabilização das pessoas jurídicas, dos seus diretores e funcionários. Assim é que as empresas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente quando a infração seja cometida “por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade”. (4)
Portanto, a responsabilização criminal das pessoas jurídicas encontra fundamento tanto constitucional, quanto infraconstitucional que justifique a aplicação da tripla responsabilidade pelos danos causados ao meio ambiente.
3. A RESPONSABILIDADE CIVIL DA PESSOA JURÍDICA.
A regra do art. 3º da Lei de Crimes Ambientais, em que pese correta para a aferição da responsabilidade penal, não o é para a responsabilidade civil das empresas. De fato, o dispositivo poderá propiciar intermináveis debates nos órgão judiciários, quanto à aplicabilidade, à pessoas jurídicas, do princípio da responsabilidade civil objetiva (independentemente de culpa) do poluidor, imposta pelo art. 14 da Lei 6.938/81.
Isto porque o referido dispositivo legal, ao dispor como se dará a responsabilização da pessoa jurídica (…”conforme o disposto nesta Lei”…) condiciona o liame de causalidade, isto é, a relação de causa e efeito que leva à responsabilidade pelo dano, à prévia existência de “decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade”.
Com efeito, a Lei nº. 9.605/98 cria regra mais restrita ainda que a do vetusto Código Civil de 2002, pois que este, no seu artigo 932, inciso III, dispõe que as empresas são responsáveis pela reparação civil quando o dano for praticado por “o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele;”.
A Lei Penal Ambiental contraria, também, o parágrafo 1º do artigo 14 da Lei 6.938/81 (Lei de Política Nacional do Meio Ambiente), que estabelece que o Poluidor (pessoa física ou jurídica) é obrigado, “independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade”.
Ora, a regra contida no art. 3º da Lei nº. 9.605/98, de caráter especial, regula como as pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente, pelas infrações e danos ao meio ambiente, e, remete esta responsabilização à figura da vontade do seu representante legal ou contratual ou do órgão colegiado decisório, diferindo específicamente do disposto no Código Civil (que abrange a responsabilidade por atos dos empregados) e do disposto na Lei de Política Nacional do Meio Ambiente (responsabilidade independente de culpa).
Como a regra geral imposta pelo art. 2º da Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro determina que a lei posterior revoga a anterior “quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior”, verificamos que, em que pese ter o Presidente da República enfatizado que o art. 14 da Lei 6.938/81 ainda vigorava, como motivação para o veto ao art. 5º. da nova lei (que estabelecia a responsabilidade civil objetiva), essa “boa intenção” não se confunde com a mens legis remanescente no diploma, que abrirá um flanco para uma jurisprudência (decisões judiciais) conservadora e excludente.
4. A RESPONSABILIDADE PENAL DOS ADMINISTRADORES GERENTES E CONTRATADOS.
Ao contrário da responsabilidade da pessoa jurídica, que poderá tomar rumos mais restritivos, a responsabilidade penal dos diretores, administradores, membros dos conselhos de administração, de acionistas, integrantes de órgãos técnicos, auditores, gerentes, prepostos e mandatários, é sobremaneira ampliada, na hipótese de terem tido ciência da conduta criminosa em progressão na empresa, sem contudo terem impedido sua prática (quando poderiam agir para evitá-la).
A matéria é tormentosa com relação à figura de auditores e advogados, a cujo sigilo em face a questões envolvendo seus clientes, estão obrigados por força de lei específica.
Da mesma forma, os consultores técnicos ambientais, contratados para sanar irregularidades, justamente no interesse do meio ambiente, não poderão tornar-se “delatores” gratuitos, sob pena de verem seu campo de trabalho obstruído. Administradores, gerentes e encarregados, cientes da ocorrência de dano ambiental, por óbvio deverão comunicar o fato à empresa e tomar todas as medidas corretivas ao seu alcance, antes de sair em desabalada carreira para a delegacia mais próxima.
A Lei 9.605/98, nesse caso, pode deixar à mercê da autoridade da esquina os dirigentes, consultores e empregados de grandes e respeitáveis empresas.
Melhor seria adotar procedimentos padronizados e programas de prevenção e treinamento que documentem razoavelmente a conduta da empresa e seus empregados face às ocorrências diárias, reduzindo, assim, espaço para “deduções”, “suspeitas” e “suposições” tão a o gosto de parcela de nossos administradores públicos, delegados, juizes e promotores de justiça.
O trabalho, portanto, será gratificante para empresas, seus gerentes e consultores, pois introduzirá métodos preventivos e procedimentos internos de defesa ambiental que, certamente, em que pese os custos financeiros e de implementação, elevarão o padrão de qualidade gerencial e do meio ambiente.
Se há benefícios com o novo ordenamento legal, certamente o primeiro será este.
5. A RESPONSABILIDADE PENAL DA PESSOA JURÍDICA.
A responsabilização penal, por óbvio deve ser condicionada à existência de dolo, isto é, vontade subjetiva de praticar o delito ou de assumir o risco, ou culpa – prática do delito por obra de negligência, imprudência ou imperícia do agente, sem no entanto, ocorrer intenção de ocasionar o dano.
O aferimento do dolo e da culpa da pessoa jurídica é novidade para nossos órgãos de justiça e segurança. Nesse sentido, vale alertar que o processo investigativo irá desenvolver-se no sentido de apurar, objetivamente, os indícios de participação dos órgãos decisórios da empresa, na conduta criminosa imputada. Atas, protocolos, memorandos, circulares, manuais técnicos, planos de emergência e treinamento, poderão tornar-se objeto de investigação criminal, na busca de elementos de culpa da empresa nos delitos penais.
Já a aferição da prova testemunhal será dificultada pela ingerência de conflitos de ordem trabalhista e pessoal, os quais, eventualmente, poderão viciar depoimentos de ex-empregados rancorosos, acionistas descontentes, ou mesmo cônjuges de diretores e proprietários em processo de separação.
A matéria exigirá, dos órgãos públicos, adoção de medidas de controle para evitar abusos de autoridade e corrupção, e das empresas, procedimentos gerenciais e preventivos mais rigorosos.
5.1. Delito formal ou não ?
A ameaça de uma sanção de ordem penal, tem obrigado empresas, que antes descuidavam dos seus custos para com a proteção ambiental (em desfavor de outras que destinavam recursos para a área), a investir no setor, tornando o mercado, desta forma, mais competitivo. Como leciona o velho mestre Gofredo da Silva Telles “numa sociedade onde há fracos e fortes, a liberdade excessiva escraviza, o direito liberta”.
No entanto, parte de nossos administradores públicos, ao invés de buscar a implementação da Lei Penal Ambiental, reprimindo ocorrências de contaminação criminosa, gestão temerária de resíduos, e outras condutas de periculosidade real, passou a semear interpretações draconianas de tipos penais de menor potencial ofensivo constantes no diploma legal, ameaçando o mercado e produzindo a desconfiança dos empresários quanto à sua real utilidade.
Um exemplo dessa equivocada estratégia oficial é a interpretação perversa que vem sendo dada ao artigo 60 da Lei de Crimes Ambientais. O dispositivo, da forma como vem sendo aplicado, está atormentando empresas, empresários, administradores e técnicos, além de pôr na alça de mira do Ministério Público, funcionários e autoridades encarregadas do cumprimento da lei.
Tipifica o artigo 60 da Lei nº. 9.605 ser crime punível com detenção de um a seis meses e/ou multa “construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território nacional, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais, ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes”.
Com efeito, não só administradores zelosos, como juristas de renome têm afirmado que o delito em questão “é de mera conduta”, ou seja, que se consuma pela simples atividade, ou tão somente pelo comportamento do agente, independente do resultado.
“Basta ser surpreendido funcionando total ou parcialmente sem licença, para incorrer no delito”, dizem.
Quanto mais claro for o entendimento do texto legal, mais efetiva será a aplicação da lei e menor a margem para contestação ou interpretações divergentes. O cidadão, da mesma forma como em relação às obras de engenharia, deve sentir segurança e estabilidade na estrutura legal que rege sua vida, mormente quando o assunto é de natureza penal.
Posto isso, é de nosso entendimento que não poderia haver espaço para divagações quanto à natureza delitiva do ato de ampliar, reformar ou funcionar atividade potencialmente poluidora sem a devida licença.
Ocorre que o delito do artigo 60 não é formal, nem mesmo de mera conduta.
Primeiro porque não há, para a empresa, exigibilidade de conduta diversa à de se fazer existir. Seria o mesmo que obrigar o indivíduo a morrer por asfixia pelo fato de ter sido tipificado como delito o ato de respirar.
Não há alternativa para a vida senão a morte, e tal não pode ser exigido da atividade econômica cujo objeto é lícito.
Nesse sentido, o delito do artigo 60 da Lei 9.605 não pode se equiparar a tipificações “de mera conduta” como o ato de dirigir veículos sem habilitação ou portar arma sem licença. O indivíduo que incorra em um desses delitos poderia ter optado por tomar um táxi ao invés de dirigir ou simplesmente ter deixado a arma em casa ao invés de portá-la; o mesmo não se pode fazer com as empresas.
5.2. O que seria “potencialmente poluente” para a lei penal?
É certo que o ato de poluir o ambiente põe em risco toda uma sociedade. Nesse sentido, é a degradação ambiental que se procura evitar com a edição de normas legais de restrição a atividades poluidoras.
No entanto, o risco de produzir degradação ambiental pode não estar presente no mero ato de ampliação, reforma ou funcionamento sem licença de uma empresa, ainda que considerada potencialmente poluidora.
Há uma sutileza legal que merece ser abordada: para a Lei Civil e Administrativa, basta a potencialidade poluente intrínseca à atividade industrial para ocorrer a exigibilidade da licença; já para a lei penal, a conduta delitiva está vinculada ao risco real e iminente de ocorrer a poluição.
5.3. As diferentes sanções e a finalidade da sanção penal.
A sanção administrativa ambiental objetiva corrigir distorções e punir (às vezes com grande rigor) os infratores, trazendo-os à tutela dos órgãos de fiscalização. Nesse campo, pode o administrador, ao par da multa, conceder prazos e estabelecer condições, visando dar oportunidade ao infrator para corrigir a irregularidade. Pode, também, o administrador aplicar multas e sanções mais graves, até mesmo suspender as atividades do recalcitrante. A sanção administrativa, assim, é de natureza disciplinar e preventiva, com efeitos fiscais e econômicos.
A sanção civil ambiental pode ser requerida por qualquer cidadão interessado, entidades civis e públicas ou pelo Ministério Público, sempre perante um órgão judiciário, que a decidirá por meio de amplo processo. A sanção civil ambiental pode traduzir-se na reparação do dano causado ao meio ambiente pelo poluidor, ou na obrigação deste adotar medidas de correção, prevenção, ou mesmo abster-se de agir ou funcionar. A responsabilidade civil do poluidor, como é notório, está vinculada ao fato ou ao risco do dano ambiental, independentemente de culpa. A sanção civil, assim, mesmo quando açambarcar os chamados danos morais, terá sempre efeitos econômicos.
Já a sanção penal será decidida judicialmente no bojo de um processo criminal, mediante denúncia formulada pelo Ministério Público.
Não é finalidade da sanção penal reparar o dano ou corrigir administrativamente a atitude do delinqüente. Por meio da pena o infrator expia sua culpa, recebe a reprovação social pelo seu ato. A pena, portanto, é de natureza pública, retributiva, visa produzir efeitos didáticos para a comunidade e o próprio criminoso, prevenindo a sociedade, mesmo quando envolve obrigações pecuniárias.
O Estado, portanto, possui à sua disposição meios legais suficientes, de ordem administrativa e civil, para corrigir e ajustar condutas potencialmente lesivas ao meio ambiente, licenciadas ou não.
O Poder Público deve, assim, recorrer à busca de uma sanção penal, somente quando e onde constatar efetiva periculosidade na conduta do infrator.
5.4. A conduta do agente como elemento do crime
O risco de degradação ambiental deve ser assumido pelo agente para que ocorra relevância penal na sua ação. No caso da atividade potencialmente poluente, a relevância penal pode não existir se o agente estiver adotando as medidas necessárias para prevenir os riscos de degradação, e buscando a adequação legal junto à administração.
Reza o artigo 225 da Constituição Federal, em seu parágrafo 3º, que pessoas físicas ou jurídicas se sujeitarão a sanções penais (ao par das sanções administrativas e civis) quando adotarem condutas e atividades “consideradas lesivas ao meio ambiente”. Esta lesividade portanto, deve ser real, sob pena de resumirem as sanções cabíveis ao campo administrativo e civil.
O tipo penal do artigo 60 da lei n.º 9.605 requer conduta dolosa do agente, ou seja, o infrator deve agir com dolo – vontade subjetiva de praticar o delito ou assunção voluntária de um risco real de provocar dano ambiental com a atividade não licenciada (visando, por exemplo, benefícios econômicos).
Há crime, ainda, quando o agente instala, reforma ou opera atividade ciente da incompatibilidade legal para com a atividade, circunstância que objetivamente impediria sua normalização. Fora desses requisitos não haveria razão para adoção de medidas penais posto estar o caso restrito ao âmbito das infrações administrativas e das medidas civis.
5.5. Circunstâncias objetivas a serem analisadas
A maior parte das nossas indústrias estava, de há muito em funcionamento, quando da promulgação da Lei Penal Ambiental, em especial a chamada indústria pesada. Várias delas encontravam-se razoavelmente adaptadas aos padrões formais de emissão e destinação de resíduos, porém, defasadas tecnologicamente.
Outras indústrias, ao tempo da edição da Lei, surpreendidas pela fiscalização, buscavam atender às exigências do licenciamento ambiental, e, nesse sentido, viam-se submetidas ao jogo de paciência, imposto pela demorada e burocratizada ação dos órgãos responsáveis pela concessão da licença.
Uma grande parte das plantas em operação de nosso parque industrial, premidas, de um lado, pelas exigências dos órgãos ambientais e, de outro, pelo aperto no orçamento, buscavam (e ainda buscam) adequar o timing das mudanças e adaptações ao seu cronograma financeiro.
Outra parcela de nosso parque industrial, refém da competitividade internacional, da premência de resultados de produtividade e dos prazos de financiamento, tratou de por em funcionamento sua maquinária recém-adquirida – via de regra menos poluidora e dentro de padrões de emissão mais restritivos que os nacionais, obviamente sem compatibilizar-se com a demorada ação de nossas agências ambientais, buscando a regularização da atividade a posteriori ou por meio de licenças provisórias (tais como a autorização provisória para “teste” do equipamento).
Em nenhum momento, essas empresas deixaram de objetivar uma finalidade lícita para sua atividade. Nenhuma delas tem por objetivo poluir, mas, sim, produzir.
Em todos esses casos, é notório que a distorção de comportamento tem origem no desaparelhamento dos órgãos ambientais, incapazes de responder à demanda de licenciamento nos prazos e condições de razoabilidade técnica e econômica.
Ressalte-se que a razoabilidade e a eficiência constituem princípios da administração pública, embutidos no artigo 37 de nossa Constituição Federal de 1988.
Aliás, nossos governantes reconhecem a distorção, tanto que não raro dedicam-se a produzir obras necessárias e meritórias sem obter o devido licenciamento ambiental, muitas vezes buscando a adequação legal quando consumada a obra. Alegam nossos administradores, em sua defesa, justamente a demora na obtenção da licença e a urgência dos cronogramas financeiros.
O Ministério Público, titular da ação penal, ao examinar as circunstâncias da pendência em que se envolveu a empresa face ao licenciamento, deverá, portanto, antes de redigir ou não a denúncia, atentar para os “gaps” burocráticos obstaculizadores da pronta regularização do empreendimento (alguns preexistentes à lei ambiental), e compará-los aos fatores de ordem econômica e financeira, essenciais à sobrevivência da atividade em tela, para então identificar se o fato circunscreve-se às esferas administrativa e civil, ou descamba para o campo criminal. O mesmo, em grau mais amplo, e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deverá fazer o magistrado, no âmbito da ação penal.
6. STJ PERMITE QUE A PESSOA JURÍDICA RESPONDA POR CRIME AMBIENTAL
No dia 06 de junho de 2005 foi noticiado pelo Jornal Valor Econômico (5), a primeira vez que um Tribunal Superior autorizou uma empresa a responder uma ação penal por crime contra o meio ambiente. O processo que envolve um posto de gasolina do município de Videira, em Santa Catarina, apura a sua responsabilidade pelo lançamento de óleo, graxa e outros produtos químicos no leito de um rio. Caso seja condenado, o posto poderá ser obrigado a prestar serviços à comunidade ou mesmo ter suas atividades suspensas.
A inclusão da pessoa jurídica na denúncia foi permitida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao analisar um recurso do Ministério Público de Santa Catarina, responsável pela denúncia contra a empresa. A Corte entendeu que, além dos responsáveis pelo empreendimento, a pessoa jurídica também pode ser responsabilizada criminalmente. O Ministério Público recorreu ao STJ porque a primeira instância e o Tribunal de justiça do Estado rejeitaram a denúncia contra a empresa, aceitando-a apenas para os proprietários do estabelecimento.
A possibilidade de empresas responderem a processos penais é algo controverso no Brasil, apesar da previsão estar na Constituição Federal e ainda na Lei n° 9.605/98, que trata dos crimes ambientais, enfrentando resistência, pois o conceito predominante é o de que o direito penal só se aplica para a restrição física de pessoas, o que não atingiria as empresas.
Porém, o que a redução da capacidade econômica da pessoa jurídica é mais eficaz do que a pena contra a pessoa física. “Trata-se de uma condenação moral da empresa” (6), razão pela qual a decisão do STJ é importante, por ser o primeiro passo de um Tribunal Superior no sentido de autorizar essa criminalização.
Nessa reportagem, o professor Eduardo Reale Ferrari ressalvou que “por muito tempo uma corrente de juristas defendeu que a Constituição Federal só autorizava as sanções administrativas para as pessoas jurídicas, numa mera interpretação do texto. Dez anos mais tarde, veio a Lei Crimes Ambientais, que regulamentou o artigo da Constituição que trazia a responsabilidade penal para as pessoas jurídicas. Segundo ele, a lei estabelece que, para ocorrer a responsabilidade penal da empresa, é necessário estar comprovado que o crime ambiental tenha decorrido de uma autorização do representante legal ou um colegiado da empresa. E ainda de um contrato de atividade que causou o dano”. (7)
Por fim, podemos verificar a aplicação concreto e efetiva da Lei dos Crimes Ambientais, acostumada a existir apenas no plano formal no passado, o que não acarretava qualquer incidência ou conseqüência no plano real.
Notas:
1 – PINHEIRO PEDRO, Antonio Fernando. A responsabilidade das empresas e dos administradores e a nova Lei de Crimes e Infrações Administrativas contra o Meio Ambiente. Disponível em [https://pinheiropedro.com.br] capturado em 19/06/2005.
2 – § 3º do Artigo 225 da Constituição Federal de 1988.
3 – § 5º do Artigo 173 da Constituição Federal de 1988.
4 – Artigo 3º da Lei nº. 9.605/98.
5 – Jornal Valor Econômico de 06 de junho de 2005.
6 – PINHEIRO PEDRO, Antonio Fernando. Entrevista concedida para o Jornal Valor Econômico de 06 de junho de 2005.
7 – FERRARI, Eduardo Reale. Entrevista concedida para o Jornal Valor Econômico de 06 de junho de 2005.
Autor: Antonio Fernando Pinheiro Pedro

Quedas de árvores, eventos climáticos extremos e segurança urbana: os impactos da Lei nº 15.299/2025