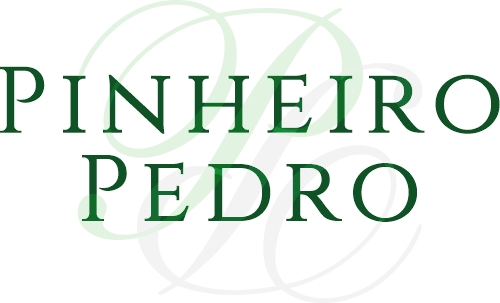TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA
Por Antonio Fernando Pinheiro Pedro
BREVE HISTÓRICO
No Brasil, já na década de setenta, encontramos precedentes ao Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta previstos na Legislação de Controle da Poluição dos estados. Um bom exemplo é o art. 96 do Regulamento da Lei º da lei nº 997, de 31 de maio de 1976, que permitia à autoridade conceder prazos para adequação da fonte poluidora à legislação.
A figura do Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta como é hoje definida, foi inicialmente prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1989, o qual reza, que: “os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados, compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais, o qual terá eficácia de título executivo extrajudicial” (art. 211).
A seguir, o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 11.09.1990), alterou a Lei da Ação Civil Pública, ao admitir que, em defesa de quaisquer interesses metaindividuais, e não apenas dos consumidores, os órgãos públicos legitimados à Ação Civil Pública possam tomar dos interessados, compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais, mediante comunicações, tendo esse compromisso eficácia de título extrajudicial (art. 113, § 6º).
Assim, o Código de Defesa do Consumidor adicionou os parágrafos 4º, 5º e 6º ao art. 5º da Lei de Ação Civil Pública (Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985), os quais serão adiante analisados.
Por outro lado, a Lei de Crimes Ambientais acaba também por estimular a solução transacional do próprio ilícito civil, uma vez que é condição para a proposta de transação penal a prévia composição do dano na esfera cível, salvo em caso de comprovada impossibilidade, conforme se infere do art. 27 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. Vale mencionar que a transação penal a que se refere o referido artigo está prevista no art. 74 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995.
Ainda no âmbito penal, o Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta foi inserido pela Medida Provisória nº 1.710, que adicionou o art. 79-A na Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998), autorizando os órgãos ambientais integrantes do SISNAMA a celebrar, com força de título executivo extrajudicial, termo de compromisso com pessoas físicas ou jurídicas responsáveis pela construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais considerados efetiva ou potencialmente poluidores.
No Estado de São Paulo, a Resolução nº 05, de 07.01.97 da Secretaria do Meio Ambiente instituiu o Compromisso de Ajustamento de Conduta Ambiental, com força de título executivo extrajudicial, no âmbito da SMA, da CETESB e da Fundação Florestal, cujo anexo possui modelo de conteúdo do instrumento. No dia 18.08.1998, esta mesma secretaria do Estado de São Paulo, regulamentou a celebração dos Termos de Compromisso previstos no art. 79-A da Lei de Crimes Ambientais, através da Resolução SMA 66/98.
Definição e Objetivos
Em tese, Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta é o ato jurídico pelo qual a pessoa, reconhecendo implicitamente que sua conduta ofende ou pode ofender interesse difuso ou coletivo, assume o compromisso de eliminar a ofensa ou o risco através da adequação de seu comportamento às exigências legais, mediante a formalização de termo com força de título executivo extrajudicial.
É o Termo, portanto, um contrato firmado pelo interessado junto ao ente da Administração Pública legitimado a agir na tutela do direito em causa, contrato esse marcado por uma tração no sentido da busca de uma das partes em adequar-se à determinadas condições postas pela outra, dentro de parâmetros legais aplicáveis.
“O mecanismo, apesar de inovador e de incentivar a atuação preventiva dos legitimados públicos, com vistas à tutela dos interesses relevantes da sociedade, deve necessariamente sofrer um intensivo controle judicial, de legalidade e de validade, para que não se transforme em objetivos divorciados da proteção ambiental”. (1)
Partes do Compromisso
Dos Compromissários.
Os Órgãos Públicos legitimados a tomarem dos interessados Compromisso de Ajustamento de sua conduta às exigências legais, são as pessoas dotadas de personalidade jurídica de direito público, da administração direta (União, Estados, Municípios, Distrito Federal), relacionadas à administração da justiça (Ministério Público) ou da administração indireta (Fundações de Direito Público, Autarquias, Fundação Privada instituída pelo Poder Público, Empresa Pública e ,Sociedades de economia mista).
Importante salientar, que a fundação privada, a empresa pública e a sociedade de economia mista estão legitimadas a tomar o compromisso quando exercem função típica da administração pública, como por exemplo fiscalização do meio ambiente, como é o caso da CETESB (agência ambiental paulista), ou com interesse processual na tutela do direito em causa (SABESP, CEDAE – empresas de saneamento estaduais de SP e RJ).
As associações privadas enquadradas no art. 5º, I e II da Lei 7.347/85, embora legitimadas a agir em juízo na defesa do meio ambiente, não são legitimadas para firmar termo de compromisso, uma vez que não são órgãos públicos.
Portanto, que nem todos os legitimados à Ação Civil Pública ou Coletiva podem tomar compromisso de ajustamento, mas somente os Órgãos Públicos legitimados à agir em juízo.
Com a introdução das novas Organizações Sociais, no entanto, autorizadas pela Lei Federal nº 9.637/98 a assumir por contrato a gestão de bens públicos ambientais, é de se questionar a limitação imposta pelo parágrafo 6º do art. 5º da Lei da Ação Civil Pública, pois que estes novos entes, embora de caráter privado (associações), agirão no interesse público, submetendo-se á legislação administrativa, inclusive quanto à observância da lei de licitações, no caso de assumirem gestão de bens e serviços públicos, enquadrando-se como entes da Administração Indireta do Estado. É certo que poderão, portanto, tomar Compromissos de Ajustamento de Conduta dos interessados.
Da atuação do Ministério Público
Se o compromisso for judicial, a presença do Ministério Público é obrigatória, seja quando for o autor da Ação Civil Pública, seja quando atuar como fiscal da lei. Tudo em respeito ao disposto no art. 127 da Constituição Federal, onde é conferida ao Ministério Público a defesa dos interesses difusos e coletivos cc. Lei 7.347/85.
Já quando o instrumento for extrajudicial, o que, mormente ocorre, entendemos que a presença do Ministério Público é optativa e não obrigatória, haja vista a autonomia do Órgão Público legitimado para celebrar o aludido Compromisso.
Dos compromitentes
Já a natureza jurídica do compromitente é irrestrita, uma vez que qualquer pessoa, física ou jurídica, de direito público ou privado, pode assumir o compromisso, quando reconhecer que sua conduta afeta interesses difusos e coletivos.
Válido mencionar ainda, que, se vários forem os interessados, todos poderão figurar, conjuntamente, como compromitentes do termo de ajustamento, podendo este ser denominado compromisso pluripessoal (recebe a mesma denominação quando for mais de um compromissário, o que é bastante inusitado). Da mesma forma, mais de um ente público poderá integrar o polo dos tomadores do compromisso, inclusive assumindo obrigações perante demais contratados, obviamente, neste caso, se o ônus assumido estiver dentro de sua esfera de atribuição legal.
Natureza Jurídica
De início, entendiam alguns que, a natureza jurídica do Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta era de ato jurídico unilateral quanto à manifestação volitiva, na medida que o compromitente reconhecia, implicitamente, a ilegalidade da conduta e assumia o compromisso de se adequar à lei. Isso é válido para a grande maioria dos casos em que caracterizada está a infração e a possibilidade de adequação do infrator às exigências legais.
No entanto, há casos em que a realidade não se enquadra na forma da lei, sendo verdadeira leviandade pretender que a matéria seja moldada pelo papel. Isso é fenômeno corrente em países como o Brasil onde há sensível disparidade tecnológica e funcional, não exercendo o Poder Público o devido controle sobre as atividades exercidas em seu território.
Nesse sentido, moderna corrente utiliza o Termo de Compromisso como instrumento de mediação e solução de conflitos de interesses de natureza difusa, em especial os de caráter ambiental, compreendendo que a dinâmica econômica e social, muitas vezes, não é acompanhada pela estrutura administrativa posta pelo Poder Público, havendo demanda excedente que nem sempre se resolve com a aplicação fria do texto da lei.
O Termo de Compromisso passa a ser, portanto, de natureza contratual e bilateral, sendo verdadeira hipocrisia considerá-lo mero sucedâneo do termo de confissão com efeitos civis.
É certo que a Administração Pública não pode transigir com seu dever-poder, posto que só lhe é permitido agir quando expressamente autorizado pela lei, dentro de seus limites (princípio da reserva legal). No entanto, o dever de agir nos termos da lei, na busca da adequação de atividades de interesse econômico e social leva a autoridade a se esforçar para aplicar a lei exegeticamente, atendendo ao disposto no art. 5º da Lei de Introdução ao Código Civil, visando atender aos fins sociais a que se destina e às exigências do bem comum.
A intransigibilidade para com o meio ambiente, posto tratar-se de bem comunal, constitucionalmente tutelado, não há de ser confundida com a rigidez, quase cadavérica, na aplicação fria da lei, praticada por alguns operadores do direito, em especial determinadas correntes hoje incrustadas na Administração Pública. De fato, não se admite que determinados administradores, ou mesmo membros do Ministério Público, apeguem-se a preciosismos legais para nada decidir, em prejuízo do próprio meio ambiente.
Nesse sentido, a legislação em vigor ao instituir o Termo de Compromisso, reconhece, expressamente, a necessidade de flexibilização na aplicação de parâmetros legais quando a matéria diz respeito a interesses difusos, com destaque para o meio ambiente e as relações de consumo.
Do objeto do Termo de Compromisso
O objeto do Termo de Compromisso não é, como muitos pensam, o meio ambiente propriamente dito, mas sim o ajuste de determinada conduta às exigências legais, dentro de condições de modo, tempo e lugar do cumprimento de obrigação de mitigar os efeitos danosos causados ao meio ambiente. Tais condições devem ser possíveis de fato, jurídica e economicamente, além de lícitas, de modo a possibilitar sua mensuração econômica, e dotadas de liquidez, ou seja, certas quanto à sua existência e determinadas quanto ao seu objeto (Código Civil, art. 1.533). (2)
Formalização
A instrumentalização formal do Termo de Compromisso é imprescindível, face à sua natureza pública.
Deve o instrumento ser escrito de forma clara, explicitando-se a atividade objeto do compromisso, assim como as medidas reparatórias e remediadoras, tudo dentro de período pré-fixado, sob pena de tornar-se inócuo.
Aplica-se, ao Termo de Compromisso, o mecanismo dos considerandos, como forma de estabelecer os parâmetros de boa-fé norteadores da interpretação das cláusulas constantes no instrumento. Nesse diapasão, os “considerandos” devem explicitar a capacidade e o interesse jurídico das partes envolvidas, a situação conflituosa ou de inadequação legal que visa o instrumento solucionar, bem como os parâmetros gerais hermenêuticos e exegéticos que deverão informar as cláusulas.
As cláusulas do Termo de Compromisso, por sua vez, devem buscar a maior objetividade possível, não se admitindo, por exemplo, exigências como “recomposição da Área de Preservação Permanente de acordo com a flora e fauna característicos”, sem que se aponte que espécimes da flora e fauna devem ser repostos, ou se tenha remissão expressa a laudo técnico constante nos autos do processo administrativo.
Como qualquer contrato formal, o Termo de Compromisso deve conter: i) no seu preâmbulo a qualificação das partes (compromissário e compromitente); ii) identificação do ecossistema efetiva ou potencialmente afetado pela conduta ilegal ou conflituosa, com descrição de potenciais riscos ou danos por ela ocasionados; iii) os benefícios ambientais que visam ser alcançados com o cumprimento das obrigações estabelecidas no Termo de Compromisso; iv) detalhamento técnico das obrigações a serem cumpridas; v) estabelecimento das condições de tempo, modo e lugar do cumprimento das obrigações de fazer e/ou não fazer; vi) cláusula penal; vii) data em que foi celebrado o Termo de Compromisso; viii) foro para dirimir dúvidas decorrentes do compromisso (vg. no local do dano, ex vi do art. 2º da Lei nº 7.347/85)
Princípios Constitucionais que devem revestir o Termo de Compromisso –art. 37
Legalidade
O administrador público está, em toda sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da Lei e às exigências do bem comum, e deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de se configurar abuso de poder ou desvio de finalidade.
Assim, por se tratar o Termo de Compromisso de um instrumento que visa dar soluções a conflitos de adequação legal, a aplicação da Lei não deve ser restrita, mas sim exegética, visando a finalidade social, que é a normalização econômica, com sustentabilidade ambiental. Deve também ser observado o princípio “o particular pode agir no vácuo da Lei, mas a Administração Pública pode agir somente quando autorizada por ela”.
Publicidade
Tendo em vista o interesse público de que se reveste o Termo de Compromisso, uma vez que se busca a retratação de interesses difusos e coletivos ofendidos pela conduta, o princípio da publicidade deve estar presente. Desse modo, o Termo de Compromisso deve ser publicado ao menos no Diário Oficial, para que todos os interessados possam conhecer o seu conteúdo.
Moralidade Administrativa
Pressuposto de validade de todo o ato da administração pública. A moral administrativa é imposta ao agente público para sua conduta interna, segundo as exigências da instituição a que serve e a finalidade de sua ação: o bem comum. (3)
Desta forma, deve o Termo de Compromisso atender aos padrões morais de probidade, precisa ser estar dentro dos parâmetros de equidade, não configurar privilégio, e não ser unilateral a ponto de se tornar abusivo.
Proporcionalidade
As medidas mitigadoras e compensatórias, bem como os prazos de adequação exigidos, devem atender as demandas de ordem técnica e legal, de maneira proporcional ao dano potencial ou efetivo.
Eficiência
Princípio estabelecido na CF no bojo do processo de reforma da Constituição. Diz respeito à necessidade do Estado agir eficazmente e com presteza na solução de conflitos, visando exercer sua autoridade territorial.
Assim, ao celebrar o Termo de Compromisso o Estado deve ser prestativo, não se admitindo, portanto, os famosos atrasos e entraves burocráticos que acabam por tornar ineficaz qualquer ação saneadora, traindo os objetivos legais que justificam o Termo de Compromisso.
O Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta e a Transação
O Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta Ambiental é revestido, basicamente, do compromisso de fazer e/ou não fazer, uma vez que seu objetivo principal é ajustar sua conduta às exigências legais ou dirimir conflitos dentro dessas exigências.
Já no caso da impossibilidade de reparação dos danos causados, o interessado no Termo de Compromisso buscará adotar medidas compensatórias, que não se confundem com mera indenização. Assim, o compromisso de adequação à lei supera as raias da confissão de dívida, mesmo que contenha cláusula de indenização.
O Termo de Compromisso, por outro lado, não se confunde com Transação, na acepção civil deste instituto. Segundo dispõe o Código Civil, é lícito aos interessados prevenirem, ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas (art. 1.025), sendo que somente quanto a direitos patrimoniais de caráter privado se permite a transação (art. 1.035).
Verifica-se, portanto, ser necessária a presença do litígio na transação, sendo que as concessões nela previstas são recíprocas, com vistas à sua extinção. O Termo de Compromisso, por outro lado, versa sobre interesse difuso, indivisível, e quando de natureza ambiental, relacionado à bem de uso comum do povo (art. 225, Constituição Federal), sendo, portanto, direito indisponível, defeso sobre ele transigir.
Como muito bem salientado pelo Ilustre jurista Dr. José Rubens Morato Leite, “trata-se, na verdade, de um instrumento de tutela de interesses metaindividuais preventivo e inibitório, em concepção diversa dos institutos do direito civil existentes e objetivando regular uma ordem social e jurídica diferenciada”. (4)
Compromisso de Ajustamento de Conduta firmado antes de proposta a Ação Civil Pública
Quando o Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta for firmado anteriormente à Ação Civil Pública, desaparece o interesse de agir das partes compromissadas, necessário à propositura da referida ação.
Se o Termo de Compromisso for formalizado no curso de Inquérito Civil -procedimento judicialiforme presidido pelo Ministério Público, não haverá mais ensejo para ajuizamento da Ação Civil Pública, quer para o Ministério Público, quer para qualquer outro legitimado, a menos que o autor da Ação comprove cabalmente a existência de resíduo jurídico-material não abrangido ou atingido pelo Termo. Assim, desde que o compromisso abranja todos os pontos objetivados no inquérito, o Ministério Público promoverá o arquivamento dos autos, ato a ser revisto pelo Conselho Superior do Ministério Público. (5)
Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta firmado no curso de Ação Civil Pública
O TAC efetuado no bojo do processo, para ter validade, depende de homologação judicial, portanto, não é mais um Termo de Compromisso nos moldes do estabelecido pelo art. 5º da Lei da Ação Civil Pública, uma vez que se trata de título executivo judicial.
Não se trata também de reconhecimento da procedência do pedido, posto que possível, no bojo do ajuste, a adoção de medidas não só reparatórias, como mitigadoras e compensatórias, instrumentos reconhecidos pela Política Nacional do Meio Ambiente e aplicáveis exegeticamente à Ação Civil Pública, no atendimento das demandas caracterizadoras da tutela dos interesses difusos: autonomia e qualidade de vida.
Assim, Termo de Compromisso não significa reconhecimento da procedência do pedido, posto ser efetuado no interesse da adequação da atividade questionada no processo aos parâmetros de compatibilização do desenvolvimento econômico social com a preservação ambiental, visando à preservação e restauração de recursos ambientais, com vistas a sua utilização racional e disponibilidade permanente (incisos I e VI, do art. 4º, da Lei 6.938/81).
Desta forma, se o réu da Ação Civil Pública firmar Termo de Ajustamento de Conduta perante o órgão jurisdicional, sobrevindo sua homologação judicial, o processo será extinto com julgamento do mérito, com base no disposto no art. 269, III, do Código de Processo Civil. O Termo de Compromisso constitui-se, portanto, em transação, cujo objeto, saliente-se, não é o meio ambiente propriamente dito, e sim as condições de modo, tempo e lugar de cumprimento das obrigações de recuperar o meio ambiente.
O Termo de Compromisso, a teor do art. 5º da Lei da Ação Civil Pública, não carece de homologação judicial para que surta efeitos, no entanto, ressalte-se mais uma vez, firmado em juízo, a sentença que o homologar constituirá título executivo judicial.
Existe, no entanto, uma outra situação em que o compromisso é firmado no curso de Ação Civil Pública, porém fora do processo, perante o autor da ação ou o Ministério Público (caso seja este apenas interveniente). Neste caso, abrangendo o Termo de Compromisso todo o objeto da ação, esta perde seu objeto.
Da mesma forma, ocorrendo Termo de Compromisso perante o órgão fiscalizador competente para atuar na tutela do objeto em causa, e não sendo este o autor da ação, pode ocorrer a perda do interesse de agir pelo autor do pedido, principalmente se este for associação civil ou órgão não diretamente responsável pela tutela do bem em testilha. Sendo assim, deve o juiz decretar o processo extinto sem julgamento do mérito, na forma do que dispõe o art. 267, VI, do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável à espécie.
Do prazo do compromisso
A determinação do prazo conferido ao compromitente para adequar seu empreendimento às normas ambientais é condição “sine qua non” para a validade do Termo de Compromisso. O estabelecimento de cronograma da execução também é bastante recomendável, na medida em que facilita sobremaneira a fiscalização do cumprimento das obrigações por parte do Órgão Público.
A Medida Provisória que inseriu o art. 79-A à Lei de Crimes Ambientais, reza que o prazo de adequação às normas estabelecido no Termo de Compromisso não poderá ser superior a três anos, sendo prorrogável por mais três, caso necessário. Entendemos, aliás, que o limite legal imposto pela MP fere o princípio da proporcionalidade, pois o prazo estabelecido, atinente somente aos casos ali elencados (atividades anteriores à edição da Lei 9.605/98) pode ser suficiente em muitas hipóteses mas ínfimo para outras.
Da execução Termo de Compromisso
O Termo de Compromisso, como reza o § 6o. do art. 5o. da Lei 7.347/85, forma título executivo extra-judicial, e o nele contido gera presunção iuris tantum. Isso significa que o título executivo que o representa pode ser imediatamente objeto de ação de execução no caso de descumprimento por parte do compromitente das obrigações que nele assumiu.
Tratando o Compromisso de obrigação de fazer, incidirão as normas dos arts. 632 a 641 do Código de Processo Civil. Assim, proposta a execução, o juiz fixará prazo para que a obrigação seja cumprida; não o fazendo, pode o Órgão Público compromissário requerer ao juiz que a obrigação seja cumprida por terceiro à custa do devedor, em consonância ao dispositivo legal supramencionado, independente da multa fixada.
Se o Compromisso for de obrigação de não fazer, incidirão as normas dos arts. 642 e 643 do Código de Processo Civil. Assim, se o compromitente praticou ato cuja abstenção estava obrigado por lei, o Órgão Público compromissário poderá requerer ao juiz, na ação de execução, que fixe prazo para que o devedor o desfaça. No caso de recusa, o juiz poderá determinar o desfazimento à custa do devedor, respondendo este, em conseqüência, por perdas e danos.
Do aditamento, retificação ou rescisão do compromisso
O Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta pode ser retificado, aditado ou mesmo rescindido como os atos jurídicos em geral, ou seja, de maneira voluntária, pelo mesmo procedimento pelo qual foi feito, sendo tais atos justificados técnica e legalmente.
Admite-se, da mesma forma, rescisão contenciosa, por meio de ação anulatória.
Conclusão
O Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta Ambiental é um valioso instrumento de que devem se valer os interessados em atender a exigências legais de ordem ambiental, mitigar ou remediar danos iminentes ou causados ao meio ou mesmo solucionar ou prevenir conflitos de ordem ambiental que afetem o licenciamento de atividades ou sua continuidade.
Outra vantagem importante é que se evita o desgaste da imagem da empresa, assim como desafoga o judiciário, que já se encontra sobrecarregado.
Ademais, a rapidez na solução dos conflitos ambientais é fundamental para evitar o agravamento dos danos e, sob essa ótica, o Termo de Compromisso é o melhor instrumento para solução extra-judicial dos mais eficazes, desde que seus operadores igualmente evitem procedimentos excessivamente litúrgicos e burocráticos, apoiando-se, ao contrário, em ações técnicas e objetivas.
Notas:
1 – Clemes, Sérgio. Apontamentos sobre a possibilidade de transação dos interesses difusos na lei brasileira. In: Oliveira Júnior, José Alcebíades e Leite, José Rubens Morato (coord.) Cidadania Coletiva. Florianópolis: Parelelo 27; 1996, p. 180. apud Leite, José Rubens Morato. Dano Ambiental: do individual ao coletivo, extrapatrimonial. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais; 2000; p. 264.
2 – Fink, Daniel. Roteiro de aula proferida no Curso de Direito Ambiental da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo; 2000.
3 – Meirelles, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Edit.Malheiros. 20ª Ed.; 1995.
4 – Clemes, Sérgio. Apontamentos sobre a possibilidade de transação dos interesses difusos na lei brasileira; apud Leite, José Rubens Morato. Dano Ambiental: do individual ao coletivo, extrapatrimonial. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais; 2000; p. 266.
5 – Vide Súmula nº 04 do Conselho Superior do Ministério Público.
BIBLIOGRAFIA
Clemes, Sérgio. Apontamentos sobre a possibilidade de transação dos interesses difusos na lei brasileira. In: Oliveira Júnior, José Alcebíades e Leite, José Rubens Morato (coord.) Cidadania Coletiva. Florianópolis: Parelelo 27; 1996, p. 180. apud Leite, José Rubens Morato. Dano Ambiental: do individual ao coletivo, extrapatrimonial. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais; 2000.
Clemes, Sérgio. Apontamentos sobre a possibilidade de transação dos interesses difusos na lei brasileira; apud Leite, José Rubens Morato. Dano Ambiental: do individual ao coletivo, extrapatrimonial. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais; 2000.
Filho, José dos Santos. Ação Civil Pública – Comentários por Artigo. Rio de Janeiro: Edit. Lúmen Júris. 2ª Ed.; 1999.
Fink, Daniel. Roteiro de aula proferida no Curso de Direito Ambiental da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo; 2000.
Leite, José Rubens Morato. Dano Ambiental: do individual ao coletivo,
extrapatrimonial. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais; 2000.
Mazzilli, Hugo Nigro. O Inquérito Civil. São Paulo: Ed. Saraiva; 1999.
Meirelles, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Edit.Malheiros. 20ª ed.; 1995.
Milaré, Edis. Tutela jurídico-civil do ambiente. In: Revista de Direito Ambiental nº 0. São Paulo: Edit. Revista dos Tribunais; s/d.
Vigliar, José Marcelo Menezes. Ação Civil Pública. São Paulo: Edit. Atlas. 3ª Ed.; 1999.
Autor: Antonio Fernando Pinheiro Pedro

Quedas de árvores, eventos climáticos extremos e segurança urbana: os impactos da Lei nº 15.299/2025