Biblioteca
Artigos

No mês de abril, alguns partidos políticos questionaram, perante o Supremo Tribunal Federal (STF), a Lei Federal nº. 14.285/2021, que atribui aos municípios e ao Distrito Federal a competência para definir a metragem de áreas de preservação permanente (APPs) em torno de cursos d'água em áreas urbanas. A ação é de relatoria do ministro André Mendonça. Em síntese, a norma permite que os municípios definam faixas de APPs inferiores às estabelecidas no novo Código Florestal (Lei Federal nº. 12.651/2012). Para os partidos políticos que ingressaram com a ADI, isso seria uma afronta a competência legislativa concorrente sobre meio ambiente (artigo 24, incisos VI, VII e VIII e parágrafo 4º, e artigo 30, inciso II, da Constituição Federal). Outro argumento utilizado pelos partidos é que a lei deixa margem para que haja maior flexibilização das regras ambientais por leis municipais conforme a cidade for se expandindo, reduzindo-se cada vez mais as faixas de proteção nas APPs hídricas. O julgamento tem grande relevância para a sociedade como um todo, uma vez que a lei impacta diretamente no equilíbrio ecológico da região e na qualidade de vida das pessoas. A ação objetiva a declaração de inconstitucionalidade da Lei, “em respeito ao direito à vida e ao direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem como ao regime que norteia a legislação concorrente em matéria ambiental”. A equipe do Pinheiro Pedro permanece à disposição para solucionar eventuais dúvidas.

Vinte anos separam a Conferência de Estocolmo da realizada no Rio de Janeiro em 1992. Nessas duas décadas as mudanças paradigmáticas foram brutais. Em 1972, a questão ambiental ainda não integrava os objetivos da ONU (Organização das Nações Unidas). Predominava o impasse entre o preservacionismo dos países do norte, cujo objetivo era manter intocados os recursos naturais, mesmo que isso implicasse em não desenvolvimento, na seara das teses neomalthusianianas, e o conservacionismo dos do sul, cujos interesses desenvolvimentistas pressupunham a exploração dos recursos naturais, mas não de forma irresponsável. O Brasil, sob regime militar, integrava o segundo grupo, não admitia intervenção externa em assuntos de soberania nacional, da mesma forma que em outros foros multilaterais, prevalecia também essa diplomacia defensiva. Vinte anos depois, o Brasil já democrático, quitadas as hipotecas soberanistas, assume posição ativa na conferência ECO92. A Declaração do Rio, sobre princípios ambientais, consagra e amplia o relatório Brundtland, estabelecendo responsabilidades comuns, porém diferenciadas, para atingir o desenvolvimento sustentável, que pressupõe compromisso com as gerações futuras. A atuação da ONU passa a se centrar no indivíduo, o Estado não pode se desenvolver a todo custo, tem de se comprometer com o bem estar do ser humano, pois o equilíbrio natural é condição para o desenvolvimento social. O conflito entre os países do norte e os do sul passa a ser, respectivamente, o direito de acesso à diversidade biológica versus o dever de repartição equitativa dos ganhos, ou seja, a obrigação dos países que detém tecnologia em dividir seus lucros com os países possuidores dos recursos naturais. Mais duas décadas se passaram e o Brasil volta a ser sede do encontro organizado pela ONU, só que desta vez mais reduzido, durante os dias 4 a 6 de junho de 2012 (a ECO92 durou 15 dias). Nesses anos, houve muitos avanços, mas os objetivos socioambientais propostos pela Agenda 21 ainda não foram totalmente alcançados. O foco atual será a transição para a economia verde, com baixos impactos ambientais, garantindo, assim, o desenvolvimento sustentável e a diminuição da pobreza. A agenda ambiental interessa a todos os países do planeta, mas como os impactos das mudanças climáticas serão de certa forma nocivos para alguns países, principalmente os insulares e os de menor desenvolvimento relativo, é provável que em 2012 haja um significativo conflito entre os mais atingidos e aqueles que presumem dispor de mais tempo para adotar medidas efetivas de controle. O Brasil pode e deve assumir papel protagonista nas negociações sobre o clima. Além de ser um dos principais detentores de recursos naturais, dispõe de legitimidade internacional para propor mudanças. Interessa ao país a implementação de políticas de combate ao desmatamento, a garantia de uma matriz produtiva limpa e a efetiva eficácia do sistema nacional de unidades de conservação. Os compromissos voluntários e ambiciosos assumidos pelo governo precisam ser assegurados. As iniciativas da economia verde devem ser encaradas como oportunidade para gerar empregos e tecnologia que, no futuro, possa ser exportada para outros países, a exemplo dos biocombustíveis que, atualmente, são utilizados em favor do desenvolvimento. A política brasileira, contudo, não pode se perder em dogmatismo. Segundo o IPCC (Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, da sigla em inglês), 25% das emissões de efeito estufa no mundo são causadas por desmatamento; no Brasil, essa cifra chegaria a 70%. Estamos poluindo, não para nos desenvolver, pelo contrário, queimamos nossos recursos que a cada dia valem mais, recursos esses que poderiam ser muito bem usados economicamente. Não é suficiente o papel de articulador de consensos adotado pelo Brasil, assumindo compromissos voluntários de combate ao desmatamento e de redução das emissões, de forma mensurável, reportável e verificável. O Brasil precisa encarar o desafio de usar a economia verde em seu favor e, efetivamente, buscar formas de desenvolvimento, por meio de tecnologia limpa, como foi feito quando propôs o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. Não é sensato aguardar que seja resolvida a clivagem entre os Estados Unidos da América, que não querem engajar-se em metas obrigatórias, superestimando o mecanismo de mercado de carbono, e a União Européia, que adere a metas mais ambiciosas, desde que outros países desenvolvidos também o façam. Por Danielle Mendes Thame Denny

Artigo publicado no Jornal Valor Econômico, em 03/12/09 O debate sobre mudanças climáticas e as medidas para lidar com elas trazem consigo inevitáveis repercussões no comércio internacional. A adoção unilateral de compromissos de redução de emissões de gases efeito estufa se faz em geral acompanhar de medidas comerciais de equalização das condições de concorrência entre produtos importados e nacionais. No entanto, essas medidas podem adquirir um caráter protecionista e se contrapor às normas da Organização Mundial do Comércio (OMC). A melhor forma de lidar com esse potencial conflito de normas é fortalecer o regime internacional de proteção ao clima pela via multilateral. Ao final da 13ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP-13), realizada em Bali, em 2007, os países signatários da convenção comprometeram-se a iniciar esforços adicionais para a estabilização das concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera. O Plano de Ação de Bali caminhou paralelamente às negociações sobre o segundo período de compromisso do Protocolo de Quioto (após 31/12/2012), que traz metas de redução de emissões para os países desenvolvidos, com exceção dos EUA, que não ratificaram o acordo. A 15ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro sobre Mudança do Clima (COP-15) e a 5ª Reunião das Partes do Protocolo de Quioto (MOP-5), que ocorrerão em Copenhague a partir do próximo dia 07 de dezembro, devem fechar essa rodada de negociações iniciada em 2007. Ao longo da construção do regime internacional de proteção ao sistema climático, agrupamentos regionais, governos nacionais e locais passaram a regular a temática ambiental nas suas legislações, refletindo, de um lado, a preocupação com o aquecimento global e, de outro, a necessidade de marcarem suas posições. Em 2003, a União Européia instituiu o Esquema Europeu de Emissões para auxiliar seus países membros a alcançarem as metas de redução de emissões estabelecidas no Protocolo de Quioto – média de 8% em relação ao ano-base de 1990. No início de 2009, a União Européia deu um passo além do consenso global e fixou unilateralmente meta de redução de 20% em relação aos níveis de 1990, até 2020, e de 60-80%, até 2050. Nos Estados Unidos, tramita no Congresso o projeto de lei Waxman-Markey, que pretende instituir uma política nacional de segurança energética e energia limpa. A proposta prevê metas de redução de emissões de gases de efeito estufa de 17% em relação a 2005, até 2020, e 83% em relação ao mesmo ano base, até 2050. O projeto propõe a criação de um sistema de cap-and-trade federal, ou seja, a imposição de limites de emissões e a instituição de mercado de comercialização de créditos gerados a partir dos excedentes de redução. Ao adotar essas regras, os países desenvolvidos se sentem tentados a impor medidas de correção dos preços dos produtos importados ou de adaptação a padrões ambientais mais rígidos. Entre essas medidas estão os chamados border tax adjustments, que nada mais são do que sobretaxas aplicadas aos produtos importados não sujeitos às mesmas restrições ambientais em seus países de origem. Medidas comerciais desse tipo tendem a ser especialmente prejudiciais para os países em desenvolvimento. Primeiro porque suas empresas enfrentarão maiores dificuldades para exportar. Segundo porque, para manter a competitividade exportadora, essas empresas serão forçadas a adaptar seu processo produtivo, sem contar com os mesmos incentivos e instrumentos disponibilizados pelos países ricos. Os efeitos das políticas ambientais unilateralmente adotadas já começam a aparecer. O Esquema Europeu de Emissões prevê que, a partir de 2013, qualquer vôo que decole da Europa ou pouse naquele território deverá cumprir suas regras internas de redução de emissões. Além disso, a Diretiva Européia que visa promover a utilização de energia proveniente de fontes renováveis estabelece que considerações de ordem ambiental, social e econômica influirão nas medidas relativas à importação de biocombustíveis. Nos EUA, o projeto de lei Waxman-Markey já prevê imposição de tarifas a produtos importados ou a exigência de que esses bens se sujeitem ao sistema de cap-and-trade. Apesar da tentativa de legitimá-las com argumentos ambientais, essas medidas podem adquirir contornos protecionistas e ser contestadas à luz dos acordos da OMC. Entre as regras comerciais potencialmente violadas estão as proibições de produtos estrangeiros serem tributados em excesso à tarifa de importação consolidada no âmbito da OMC ou de serem onerados com taxas, tributos ou exigências internas às quais os produtos nacionais não estão sujeitos. Além disso, a possibilidade de adoção de medidas necessárias à proteção da vida humana, da fauna e da flora e à conservação de recursos naturais, prevista no art. XX do GATT, está condicionada a que não constituam “restrições disfarçadas ao comércio internacional”. Ressalva semelhante é estabelecida pela própria Convenção do Clima, que determina que as medidas de combate a mudança do clima não devem constituir meio de discriminação arbitrária ou injustificável ou restrição velada ao comércio internacional. Além de contrariar princípios fundamentais dos regimes regulatórios tanto do comércio quanto da proteção ao clima, a adoção de medidas protecionistas em legislações ambientais desconsidera as maiores dificuldades de adaptação dos países em desenvolvimento a padrões ambientais mais rígidos. Nesse cenário, ganha relevo a busca por um acordo em Copenhague. A falta de um consenso global sobre o nível de comprometimento de cada país com a redução de emissões, além de não ajudar no avanço da causa ambiental, aumenta a probabilidade de disputas na OMC quanto à compatibilidade com as regras multilaterais do comércio de certas medidas comerciais inseridas nas legislações nacionais ou regionais sobre mudanças climáticas. Cabe aos líderes mundiais evitar um desfecho como esse. Por Rabih A. Nasser* e Daniela Stump

Por Antonio Fernando Pinheiro Pedro O sistema de licenciamento ambiental brasileiro é instrumento fundamental para a consolidação do desenvolvimento sustentável em nosso país. No entanto, entraves de ordem institucional, legal e técnica ao seu correto funcionamento, indefinições quanto à competência dos entes federados, e visões subjetivas impostas a conceitos constitucionais de sustentabilidade e equilíbrio ambiental, levam à constatação da premente necessidade de aperfeiçoarmos o sistema de licenciamento ambiental, tornando-o mais transparente, ágil e eficaz. A primeira e definitiva atitude para a implementação eficaz do licenciamento ambiental no Estado Brasileiro, é fixarmos o conceito de licenciamento ambiental como SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL, e INSTRUMENTO DE VIABILIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS no país. Uma nova atitude, cultural e ideológica, baseada nesse conceito, que resgata efetivamente os pilares constitucionais da Ordem Econômica e Social, induziria a Administração Pública e o setor produtivo a investir recursos humanos e materiais no sistema de licenciamento ambiental, desobstruindo-o e aperfeiçoando-o, para, enfim, descaracterizá-lo como “gargalo” e “obstáculo” ao fluxo de investimento. Isto porque é justamente no que o instrumento vem se tornando, face ao sucateamento do setor público de controle ambiental, tornado “secundário”, vítima de seguidos cortes lineares promovidos nas verbas, da falta de visão estratégica e do significado do licenciamento de nossos governantes. Além da mudança de atitude conceitual, é importante incorporar a Avaliação Ambiental Estratégica em nossas políticas públicas, de forma a evitar que o licenciamento de grandes projetos e programas de infra-estrutura seja conduzido pontualmente no fluxograma da Administração Pública, perdendo-se tempo e investimentos. Outro grande entrave à própria sustentabilidade do licenciamento ambiental brasileiro é a demora que os órgãos licenciadores enfrentam na análise dos requerimentos de licença. Isto não deve ser atribuído à incapacidade técnica dos referidos órgãos, mas às enormes dificuldades orçamentárias e ao reduzido número de técnicos disponíveis. Tal dificuldade resulta em atrasos na análise dos requerimentos, que se avolumam dia após dia nos escaninhos das repartições governamentais. Uma solução para o entrave seria a proposta de organização, pelos órgãos de licenciamento, de um quadro de consultores independentes, ao qual poderiam os empreendedores recorrer, publicamente, para um pré-exame de seus projetos, identificando seus pontos sensíveis e sugerindo as melhores soluções técnicas para corrigir ou minimizar seus eventuais impactos ambientais negativos. Um quadro de consultoria independente também poderia, às expensas do próprio empreendedor interessado, mediante sistema de pagamento retributivo (aplicação pura do chamado princípio do poluidor-usuário-pagador), analisar os estudos de impacto ambiental apresentados ao órgão público encarregado do licenciamento, desonerando, assim, a burocracia estatal, sem ocorrer perda de eficiência ou demora no deslinde do processo de autorização. Isto, por óbvio, não substitui a análise pública do licenciamento; os trabalhos executados sofreriam sempre o crivo de técnicos governamentais, a quem competiria, sempre atendendo à conveniência, oportunidade e legalidade, homologar e incorporar aos seus pareceres as conclusões dos consultores particulares. Aos analistas governamentais, porém, seria poupada grande parte do trabalho braçal de levantamento de dados e sua sistemática correlação com o empreendimento proposto, reduzindo tempo e custos. No mesmo sentido, o sistema de contratação, orientado por lei específica, desoneraria os cofres públicos, evitando gastos com pessoal destinado a atividades-meio, despesas com vistorias, diligências e inspeções de campo. Outro ponto de estrangulamento está na insuficiente e confusa regulamentação dos trabalhos de licenciamento, especialmente no que concerne às diversas competências e critérios, no âmbito federativo e setorial, dos integrantes do SISNAMA. Tal problema poderia seria amenizado com o aperfeiçoamento da Resolução CONAMA n° 237/97 pelo executivo federal, combinado com um efetivo processo de revisão e consolidação da legislação ambiental pelo Congresso Nacional. De fato, a Resolução CONAMA 237/97 teve a vantagem de instituir regras que já de há muito deveriam constar em qualquer norma legal de nossa não raro leniente Administração Pública, como os prazos de vigência das licenças prévia, de instalação e operação, o prazo para revisão e renovação desta última, e os prazos de análise dos requerimentos pelos órgãos e de cumprimento das complementações exigidas por estes. Entretanto, desde sua entrada em vigor, a Resolução 237 tem enfrentado questionamentos quanto à sua constitucionalidade, daí recomendar-se sua revisão e complementação o quanto antes. A desarticulação dos órgãos do SISNAMA e a falta de padronização de procedimentos, por sua vez, também ocasiona danos. Para mitigar este problema, o trabalho de gestão compartilhada, seja através das “comissões tripartites estaduais”, como preconizado pela atual gestão do governo Lula, seja através do resgate do Grupo de Trabalho, instituído no final do governo FHC, no âmbito da Secretaria de Qualidade Ambiental nos Assentamentos Humanos – SQA do Ministério do Meio Ambiente, é de fundamental importância. Mas uma ação independente não seria indesejável… O ideal seria um conselho composto de juristas convidados, representantes do setor produtivo, técnicos e procuradores ligados aos órgãos estaduais, ao IBAMA e ao próprio Ministério do Meio Ambiente, detalhando as normas gerais importantes no âmbito da federação, não somente no campo da cooperação entre entes federados (já em discussão no Congresso Nacional) mas, em especial, normas que listem, positivamente, empreendimentos estratégicos e de interesse nacional, independentemente da magnitude do impacto, que devam ser licenciados pelo organismo federal, e outros que devam ser licenciados pelos estados e municípios. Foi, por outro lado, um enorme avanço para a causa da preservação ambiental e do desenvolvimento sustentável, o fato da Constituição de 1988 e legislação ordinária haverem atribuído ao Ministério Público a defesa dos interesses difusos e ambientais, armando-o com o instrumento da ação civil pública. No entanto, não se pode deixar de verificar que, em alguns casos, têm ocorrido arbitrariedades, muitas vezes em detrimento da própria atuação do órgão licenciador. Por isso, é inadiável incrementar métodos de ação conjunta, entre o Ministério Público e a Administração Pública (como se o primeiro não integrasse a última…), buscando melhor eficiência no resguardo do interesse público, da Ordem Econômica e Social, da defesa ambiental e dos princípios da moralidade, legalidade e eficiência, constitucionalmente assegurados ao cidadão contribuinte. Os picos de exacerbação dos conflitos envolvendo Ministério Público e Administração, que não raro deságuam no judiciário, devem-se, na verdade, ao insuficiente diálogo entre as partes interessadas, excessiva burocratização na troca de informações, interpretações ideológicas díspares face ao princípio da razoabilidade e, não raro, desconhecimento da real funcionalidade do licenciamento. O licenciamento não é, como muitos pensam, um fluxograma burocrático a ser preenchido por papéis. O licenciamento, na verdade, é um instrumento de mediação de conflitos, um constante (porém documentado) diálogo entre instituições setoriais, sociedade civil e entes federados. O licenciamento, assim, não pode servir de pivô para desencontros entre entes burocráticos estatais. Urge, em nome do interesse público, o exercício permanente do diálogo entre os funcionários do Estado, de práticas transparentes e o fortalecimento de parcerias, além da inserção de instrumentos alternativos à resolução de conflitos ambientais, tais como o instrumento da mediação e arbitragem, evitando-se uma progressiva e nefasta judicialização do sistema de licenciamento. A hierarquização ou, no mínimo, uma harmonização de entendimentos e de orientação estratégica, no Ministério Público Brasileiro, é indispensável, pois os investimentos, dos quais depende a Nação, não podem sofrer interferências que variam de acordo com a vontade e convicção ideológica do promotor de justiça ou procurador local, muitas vezes atendendo a interesses conceituais que necessariamente não se tornam públicos… O engenheiro Fernando Almeida, presidente executivo do CEBDS – Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, que reúne os 60 principais grupos econômicos do País, em artigo de publicado na imprensa (Jornal O Estado de São Paulo) destaca que “ao mesmo tempo em que o país se conscientiza da necessidade de fazer face à situação de seus 50 milhões de miseráveis e cria programas como o Fome Zero, o emperramento dos sistemas de licenciamento induz à fome. Sem exagero, podemos afirmar que em alguns estados os sistemas de licenciamento se tornaram de tal forma emperrados que a obtenção de uma licença para iniciar ou ampliar uma atividade pode levar anos. Os empreendedores, em muitos casos, desistem ou mudam de local e até de país. Limita-se assim a geração de emprego e renda, indispensável para tornar sustentáveis os programas sociais de combate à miséria. Não se trata, é claro, de defender o fim do licenciamento, mas sim de torná-lo mais transparente, ágil e eficaz”. É hora, portanto, de revisar e tornar mais eficaz o instrumento de licenciamento ambiental em nosso país, e de engajar e responsabilizar, nesse esforço, todos os atores institucionais envolvidos, caso contrário, poderá o Brasil perder uma grande referência de sustentabilidade de sua economia.
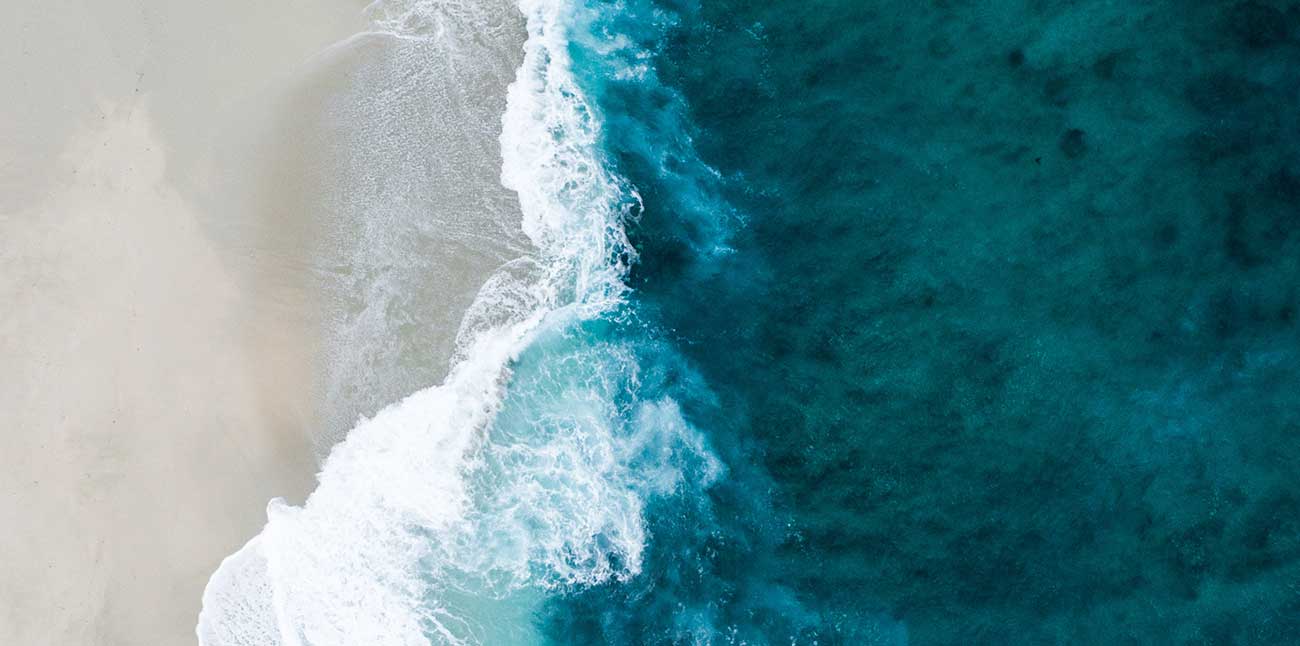
Por Antonio Fernando Pinheiro Pedro I. Introdução O Brasil possui uma das maiores áreas costeiras do mundo, voltada para o Atlântico.Sua zona costeira corresponde a uma faixa onde interagem três sistemas: oceânico, atmosférico e continental, numa extensão de 7.400km e largura variável de 70 a 480km. A costa brasileira corresponde a 5% do território nacional; abrange 512 municípios e é povoada por aproximadamente 39 milhões de habitantes. Tais fatos, somados a uma pródiga dotação da natureza quanto a recursos biológicos e minerais, requerem adequada normatização, tanto para controle estatal como também, para definir à sociedade quais os usos possíveis dos recursos naturais litorâneos e marítmos, bem como do uso e ocupação do solo nas regiões costeiras. A qualidade de vida das populações que vivem na zona costeira, depende de sua boa condição ambiental, a ser preservada não só na área marinha, como também nas águas interiores, regiões estuarinas e no ecossistema florestal da mata atlântica. A importância de nosso litoral é indiscutível. Nossa história demonstra que desde antes do descobrimento, sofríamos predação pirata de nossos recursos naturais. O país se desenvolveu inicialmente no litoral e só com o tempo o território interior foi ocupado. Hoje, portos como o de Santos servem não só a economia brasileira, como também recebem carga para o Paraguai e a Bolívia – países sem saída para o mar.Tal fato ilustra a importância econômica e estratégica do litoral e da costa brasileira. A preocupação do mundo com a proteção do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável, assegurando a perpetuação da vida com qualidade para as futuras gerações, carreou ao Estado brasileiro, a necessidade de normatizar a utilização racional e sustentável de nossos recursos naturais, inclusive ao que diz respeito à nossa costa marítma. A costa brasileira é parte de nosso território e abrange faixa marítma do Oceano Atlântico. Os oceanos são umas das últimas áreas do mundo em que prevalece o uso comum e o livre acesso das nações. A regulação do uso dos mares é tema de diversos tratados internacionais, alguns assinados por delegações diplomáticas brasileiras e transformados em lei interna. Desta forma, o presente comentário visará analisar as normas de gerenciamento da costa brasileira, sendo que, para tanto, se faz necessário abordar os tratados internacionais assinados pelo Brasil, nossas normas constitucionais, e finalmente as normas infraconstitucionais de gerenciamento costeiro, hoje a ser implementado pela União, pelos Estados e também pelos municípios envolvidos. II. Implicações de Direito Internacional Não poderíamos abordar as normas de gerenciamento da costa brasileira, sem abordar os tratados de direito internacional sobre direitos do mar e proteção do meio ambiente, dos quais o Brasil é signatário. Dois tratados internacionais merecem destaque, por sua importância e influência preponderante na construção da legislação brasileira sobre o mar, o litoral e seus recursos naturais: o primeiro, a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, que data de 10 de dezembro de 1982, e o segundo, a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento , realizada no Rio de Janeiro em 1992. A Convenção sobre o Direito do |Mar, realizada em Montego Bay, na Jamaica, tem em seu preâmbulo, a afirmação de que “os problemas do espaço oceânico estão estreitamente inter-relacionados, devendo ser considerados como um todo. Ao lado do respeito à soberania dos Estados, deverá haver uma ordem jurídica que facilite as comunicações internacionais e promova o uso pacífico dos mares, a conservação e utilização equitativa de seus recursos vivos e a proteção do meio marinho.” A matéria tratada na referida Convenção, veio integrar o arcabouço legislativo interno do Brasil em 1995, através do decreto nº1530 de 22.6.1995. Criou o instituto da “Zona Econômica Exclusiva” que delimita o mar territorial do Estado Membro a 12 milhas náuticas, e uma zona econômica exclusiva de 200 milhas náuticas, medidas a partir da linha de base prevista no Tratado, onde o Estado tem exclusividade para aproveitamento de recursos naturais, proteção ambiental, pesquisa científica e instalação de plataformas. A soberania sobre as 12 milhas náuticas, estende-se ao espaço aéreo sobre tal área, bem como ao leito e ao subsolo do mar. A soberania sobre a plataforma continental, definida no artigo 76 da referida Convenção como o leito e o subsolo das águas submarinas além de seu mar territorial até o bordo exterior do bordo continental ou uma distância de 200 milhas marinhas da linha de base de que se mede a largura do mar territorial, é reconhecida para fins de exploração e aproveitamento de seus recursos naturais. A Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento , tratou em sua Seção III, Capítulo 17, da proteção dos Oceanos, de todos os tipos de mares, das zonas costeiras e do uso racional dos recursos vivos. Prevê gerenciamento integrado e desenvolvimento sustentável das zonas costeiras, inclusive as zonas econômicas exclusivas; proteção do meio ambiente marinho; uso sustentável dos recursos marinhos vivos, tanto os de alto mar, quanto os de jurisdição nacional, e o fortalecimento da cooperação e da coordenação no plano internacional. Tais instrumentos de Direito Internacional influem preponderantemente em nosso Direito interno, como veremos. Passaremos a comenta-lo, iniciando pelas disposições atinentes de direito constitucional. III. A Costa marítima brasileira na Constituição Federal Em seu artigo 225, a Constituição Federal determina que a proteção ambiental é dever de todos, sejam governo ou sociedade civil; outorga ao meio ambiente ,status jurídico de bem de uso comum do povo, a ser preservado em prol da qualidade de vida das presentes e futuras gerações. O mesmo artigo, em seu parágrafo 4º, declara como patrimônio nacional, entre outros ecossistemas, a zona costeira. Sua utilização deve ser feita, na forma da lei, em condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. A atividade econômica deverá ser sustentável sob a ótica ambiental – fato a ser previsto e assegurado pela lei infra constitucional de todos os entes federados. Além de patrimônio nacional, o que gera a todos o dever de preservação, a zona costeira brasileira é bem da União, o que não significa que os Estados e municípios não participem ou integrem seu gerenciamento, estando a zona costeira inserida em seus territórios, gerando o direito e o dever de administração. Com efeito, o artigo 20 da Carta Magna, inclui no rol de bens da União, as praias marítimas; as ilhas oceânicas e costeiras; o mar territorial; os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva, e os terrenos de marinha e seus acréscimos. Todos os entes federados terão participação no resultado ou compensação financeira, quando da exploração de recursos minerais em seu território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva ( art.20,§ 1º, regulamentado pela lei7.990/89). Compete ainda a União, segundo o artigo 21 da Constituição, explorar portos marítimos, o serviço de transporte aquaviário entre portos. O artigo 22 determina a competência legislativa exclusiva da União sobre direito marítimo(inc. I) , defesa marítima(inc.XXVIII),regime dos portos e navegação marítima(inc.X). Entretanto, todos os Estados litorâneos, ou inseriram a proteção da zona costeira nas próprias constituições estaduais, ou produziram seus próprios planos estaduais de gerenciamento costeiro, como é o exemplo de São Paulo. E tal se dá pelo disposto nos artigos 23, inc.VI, que estabelece competência legislativa comum entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios para proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas, e 24, inc. VI de nosso diploma maior, que dispõe sobre competência concorrente para legislação entre a União, os Estados e o Distrito Federal sobre florestas, caça pesca, fauna, conservação da natureza , defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição. Tais artigos se combinam harmonicamente com a disposição do § 4º do artigo 225, que outorga à zona costeira o status de patrimônio nacional, gerando o dever de preservação e de uso ambientalmente sustentável do referido ecossistema por todos os brasileiros – governo e sociedade civil – não só autorizando, como determinando que todos os entes federados possam legislar e praticar atos de administração dentro de suas esferas de competência. IV. Da legislação infraconstitucional sobre gerenciamento da costa litorânea brasileira A lei 7.661 de 16.5.1988 instituiu mecanismo denominado “Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro”, o qual tem a função precípua de “estabelecer normas gerais que visem à gestão ambiental da zona costeira do país, lançando as bases para formulação de políticas, planos e programas estaduais e municipais, para tanto, buscando os seguintes resultados: a promoção do ordenamento do uso dos recursos naturais, e da ocupação dos espaços costeiros, subsidiando e otimizando a aplicação dos instrumentos de controle e de gestão pró-ativa da zona costeira; o estabelecimento do processo de gestão, de forma integrada, descentralizada e participativa, das atividades socioeconômicas na zona costeira, de modo a contribuir para elevar a qualidade de vida de sua população e a proteção de seu patrimônio histórico, étnico e cultural; o desenvolvimento sistemático de um diagnóstico de qualidade ambiental da zona costeira, identificando potencialidades, vulnerabilidades e tendências predominantes, como elemento essencial ao processo de gestão; a incorporação da dimensão ambiental nas políticas setoriais voltadas para a gestão integrada dos ambientes costeiros e marinhos, compatibilizando-os com o PNGC; o efetivo controle sobre os agentes causadores de poluição ou degradação ambiental, sob todas as formas, que ameaçem a qualidade de vida na zona costeira; e a produção e a difusão do conhecimento necessário ao desenvolvimento e aprimoramento das ações de gerenciamento costeiro. O Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, como vimos, é instrumento de gestão da costa litorânea brasileira estabelecido por lei federal, a qual determina normas gerais obrigatórias para os Estados e Municípios, e, dentro do conjunto de bens que integram a zona costeira, deve regular plenamente os bens da União – praias e mar territorial, cabendo aos Estados e Municípios, normas específicas sobre tal matéria, bem como regulação de controle de poluição em todas as suas formas e uso e ocupação do solo(incluindo possibilidade de limitação ao uso de imóveis) , podendo estabelecer normas mais restritivas, adequadas a suas peculiariedades. Subordina-se o PNGC, aos princípios gerais da Política Nacional do Meio Ambiente, prevista na Lei 6938/81.Sua implementação cabe ao Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, como órgão máximo do SISNAMA, articulado com a CIRM – Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, que instituiu o GI-GERCO – Grupo de Integração do Gerenciamento Costeiro, que deve promover a articulação das ações federais incidentes na zona costeira, integrando os Estados, Municípios e a sociedade nas ações de gerenciamento costeiro. O Brasil já teve dois Planos Nacionais de Gerenciamento Costeiro, o segundo complementando e dando continuidade ao primeiro, elaborado em 1988, anterior portanto, não só à atual Constituição Federal, como também à Rio-92, retroreferida, em que necessitava de adaptação a tais institutos, o que aconteceu por resolução da CIRM, em 1998(resolução-5/97), ouvido o CONAMA-Conselho Nacional de Meio Ambiente. Atualmente, os referidos grupos de trabalho se dedicam, inclusive, a planos e programas integrados de modernização portuária, no que diz respeito ao meio ambiente, abordando temas como contingência para preparação e resposta em caso de acidentes;controle ambiental da atividade portuária cotidiana, e diretrizes de gestão ambiental e ordenamento costeiro, voltadas à expansão e à modernização das áreas portuárias. V. Licenciamento ambiental nas áreas costeiras A lei 7661/88, em seu artigo 6º,§ 2º, prevê que o licenciamento ambiental se dará através de análise de Estudo de Impacto Ambiental e respectivo relatório de impacto ambiental – EIA-RIMA, para qualquer “parcelamento ou remembramento do solo que possa causar qualquer alteração das características naturais da Zona Costeira, observando-se o princípio universal da precaução, sempre que existam motivos razoáveis de que a atividade possa causar risco ao meio marinho, à saúde pública, à biota ou signifique entrave a atividades de lazer público em praias. O EIA/RIMA, auditorias ambientais e avaliações ambientais estratégicas são instrumentos a serem utilizados na gestão das atividades portuárias e de navegação para transporte de substâncias de risco, como petróleo e resíduos tóxicos em águas territoriais brasileiras, obedecendo aos planos e programas anteriormente referidos, sob comando da CIRM. VI. Conclusões O Brasil possui excelente arcabouço normativo e estrutura administrativa para administrar sua zona costeira e seus recursos marinhos. Restaria apenas ,em nome da eficácia e da celeridade no licenciamento de atividades, que os recursos públicos voltados a tais atividades, fossem descentralizados e redistribuídos aos entes federativos direta e fisicamente envolvidos no gerenciamento costeiro: Estados e Municípios, a exemplo do que ocorre nos países mais desenvolvidos. Tal medida aceleraria a adaptação do PNGC às peculiariedades locais, tornando-o mais eficaz. Entretanto, é patente a evolução e o avanço de nossas normas, no cumprimento dos desígnios constitucionais, de conciliação das atividades de desenvolvimento econômico, realizadas de forma sustentada, visando a proteção do meio ambiente e a integridade de nossa costa marítima para as presentes e futuras gerações.

Por Antonio Fernando Pinheiro Pedro A comemoração mundial da semana do meio ambiente nos faz refletir sobre o real alcance do conceito de sustentabilidade econômica nesse grande e complexo ecossistema humano em que vivemos. Jonathan Lash, presidente do World Research Institute, declarou que, “na era global, não só o comércio, mas a informação e a sociedade civil são mundiais”. Esta constatação nos remete a outra: o desenvolvimento sustentável não existe fora do regime democrático. O quadro de transparência e responsabilidade social, adotado como modelo para gestões públicas modernas, integra, hoje, cada vez mais, a paisagem do ambiente corporativo privado, obrigando empresas a também “democratizar” sua gestão ambiental. De fato, o controle da comunidade sobre a atividade empresarial tem sido crescente. Hoje, empresas não obtêm licença ambiental junto ao poder público, ou sua renovação, sem que a abrangência social da atividade a ser licenciada seja analisada. Esse fenômeno tem sido mais facilmente observado em nosso país nos processos de licenciamento de grandes empreendimentos, como o Rodoanel paulista, as plataformas petrolíferas na costa brasileira, os projetos de exploração de minério no norte do país e as expansões de nossos portos, o que é positivo, pois demanda mais transparência no projeto estratégico nacional. O lado negativo desse movimento é a sujeição de atividades importantes para a nossa economia ao litígio com grupos de pressão ideologicamente orientados, quando não manipulados por interesses setoriais, demandando a atuação de novos atores como o Ministério Público, o Judiciário e a mídia, e, muitas vezes, tumultuando a administração pública e provocando “deseconomia”. Talvez seja esse o preço da democracia na gestão corporativa, cuja contrapartida, certamente, já é, e será cada vez mais, a capacitação dos executivos para um diálogo contínuo com os chamados “stake holders”, ou seja, com a comunidade de consumidores, beneficiários e demais impactados pela atividade econômica da empresa. O Estado, de outro lado, também tem que cumprir sua parte, propiciando um ambiente regulatório eficaz e nítido, que não remeta o empresário a um labirinto burocrático que desestimule o investimento. O Estado brasileiro, nesse sentido, cobra democracia na gestão empresarial, mas não é democrático na aplicação dos instrumentos de controle ambiental. Inúmeros são os exemplos de ações ineficazes e autoritárias da nossa administração pública, que resultaram no abandono de áreas de preservação e parques nacionais e na demora injustificável em responder às solicitações de licenças para operar atividades econômicas importantes. PARTE 02 Apesar da aparente indefinição, se observarmos os últimos cinco anos de evolução da gestão ambiental, pública e privada, no Brasil, o quadro é de otimismo. Primeiro, porque a sociedade brasileira está indubitavelmente mais consciente e atenta à questão ambiental e aos contrastes sociais de nossa economia. Isso tem levado setores produtivos a implementar ações de responsabilidade social, não só como marketing, mas para atender às exigências do mercado consumidor. Segundo, porque o Estado tem implementado normas legais progressivamente mais restritas, chegando a criminalizar posturas ambientais inadequadas, obrigando empresas e órgãos públicos a introduzir sistemas de gestão ambiental em suas atividades. Finalmente, porque estamos num ambiente globalizado, onde “não só o comércio, mas a informação e a sociedade civil são mundiais”, e os grandes blocos econômicos constroem sistemas crescentes de exigências de ordem ambiental e social, impostas como verdadeiras barreiras comerciais, que devemos enfrentar armados com sistemas gerenciais mais limpos… Para termos idéia do que nos reserva a evolução da democracia ambiental, aqui e no mundo, basta atentarmos para a normatização da chamada Análise do Ciclo de Vida dos bens de consumo, que doravante deverão ser certificados levando-se em conta a discriminação dos impactos sociais e ambientais de cada fase da sua produção, bem como de cada insumo, até mesmo energético, utilizado nesse processo. Até meados do próximo semestre, a International Standart Organization deverá concluir a Norma ISO 14025, sobre Análise de Ciclo de Vida dos produtos, que será adotada como referência para a Diretiva Econômica da União Européia, e que disciplinará a importação dos produtos para aquele continente. Outro marco dessa evolução é o preocupante conceito de bioterror, adotado recentemente pelos Estados Unidos para justificar a certificação dos produtos alimentícios que importam, o que nos obriga a controlar nosso sistema de produção agrícola e industrial, baseados em rígidos padrões ambientais de biossegurança. Nessa perspectiva, inegável é o caráter econômico, na nova ordem mundial, da sustentabilidade ambiental e do direito à informação, em especial dos consumidores, nas relações comerciais e políticas do Estado Moderno. O setor produtivo responde a isso com transparência. E a sustentabilidade agradece.

Por Antonio Fernando Pinheiro Pedro I “Involução” Histórica e Resgate da Autonomia Municipal Desde a primeira constituição da independência, em 1824, os municípios brasileiros tiveram sua autonomia reconhecida, autonomia esta herdada do período colonial, que conferia às câmaras municipais jurisdição administrativa, sanitária e territorial e, até mesmo, atribuição judiciária. De fato, a organização e o controle territorial brasileiro, fizeram-se por meio das Câmaras Municipais, que palmilharam cada passo da exploração e interiorização do colonizador português e dos bandeirantes, expandindo nossa fronteira, desde o início do século 16. Conquistada a independência, a Carta Imperial de 1824 concedia autonomia sem restrições ao Município, estabelecendo, em seus dispositivos, as linhas mestras de sua organização, embora indicasse as províncias como unidades componentes da divisão político-territorial do Império. O período colonial foi marcado por questões relativas à organização das províncias, que não raro viram-se às voltas com o Governo Imperial, seja no embate por autonomias, seja pela necessidade de apoio militar para conter conflitos locais. Esse período, no entanto, não ocasionou maiores alterações na relação do governo imperial com os municípios, base da formação das lideranças políticas e, ainda, o grande fator de unidade territorial do País. O advento da República, no entanto, por todos esses fatores, e pela necessidade de alinhar nossa conformação político-territorial com o modelo republicano norte-americano que o inspirara, ocasionou sensível involução na autonomia dos municípios brasileiros, retirando-lhes capacidade de gerir a justiça, o poder de polícia territorial, o controle sanitário, bem como limitando a ação das câmaras municipais na sua gestão. Assim foi que as Constituições da República asseguraram autonomia aos municípios conferindo-lhes, no entanto, competência “peculiar”. Transferiu-se aos estados federados a iniciativa de legislar sobre a estrutura orgânica municipal, inspiração “importada” e pouco afeta à nossa tradição municipalista, que então beirava o quarto centenário… As constituições que se seguiram ao Decreto n. 1 da República e à Carta Republicana de 1891, trataram da autonomia municipal de forma a sutil e progressivamente suprimir-lhe horizontes, embora a resguardando no que tange à administração própria sobre o que denominaram “peculiar interesse”, senão vejamos: A Constituição de 1891, no seu art.68, rezava que “Os Estados organizar-se-ão de forma que fique assegurada a autonomia dos Municípios, em tudo quanto respeite ao seu peculiar interesse”. A Constituição de 1934, no art.13, dispunha que “Os municípios serão organizados de forma que lhes fique assegurada autonomia em tudo quanto respeite ao seu peculiar interesse, especialmente (…)”. Da mesma forma, a Constituição de 1937, art.26, reafirmava que “Os Municípios serão organizados de forma a ser-lhes assegurada autonomia em tudo quanto respeite ao se peculiar interesse, e especialmente (…)”. A Constituição de 1946, talvez por ter sido formulada de maneira mais democrática que as anteriores, desvinculou a “peculiaridade” do conceito de autonomia. No entanto, condicionou “ao peculiar interesse” a forma de administração dos municípios (art. 28). Mutatis mutandi, o resultado foi a mantença de municípios desfigurados em relação à tradição e cultura tetracentenárias que possuíam. O mesmo fez a Constituição de 1967, emendada e “remendada” mais de duas dezenas de vezes em um período de governos militares, ao estabelecer no seu artigo 15 que “A autonomia municipal será assegurada (…) pela administração própria, no que respeite ao seu peculiar interesse”. O regime constitucional do período militar reforçou, ainda, a cangalha aposta sobre os ombros dos municípios, impondo o regime de lei orgânica unitária e complementar, conferindo aos estados o estabelecimento dos critérios da organização municipal (art.14). Esse sistema, a pretexto de consolidar o princípio da autonomia municipal, na verdade o violava, vez que os Municípios não legislavam organicamente em seu favor, cabendo à União e aos Estados fazê-lo, impedindo, assim que essas unidades basilares da federação brasileira se autodeterminassem. Com o fim do regime militar, e o restabelecimento da democracia, os municípios brasileiros, em peso, buscaram o resgate histórico de sua autonomia, o que foi obtido, não sem muita luta e articulação no ambiente da Assembléia Nacional Constituinte, com a Carta de 1988. O advento da Constituição de 1988 pôs fim ao então já quase secular dilema dicotômico federativo. A Carta dispôs os Municípios, expressamente, como unidades que compõem a República Federativa do Brasil, indissoluvelmente unidos aos estados e ao Distrito Federal, par e passo com esses entes, todos autônomos, o que jamais havia ocorrido nos diplomas anteriores. A partir de então se renovou o princípio constitucional da autonomia municipal, determinando a nova Carta que o Município será regido por lei orgânica própria, aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, a qual deverá observar os princípios estabelecidos na Constituição Federal e na respectiva Constituição Estadual, possuindo, outrossim, competência legislativa para assuntos de interesse local, além de suplementar a legislação federal e estadual no que couber, e gerir o regime de uso de seu solo, entre outras atribuições. Ressalte-se que a autonomia municipal se traduz em autogoverno, também de prerrogativa da cidadania, no atual regime constitucional brasileiro. A autonomia dos Municípios está, agora, na base do nosso regime republicano e comparece como um dos mais importantes e transcendentais princípios do nosso direito público, constituindo o cerne do Estado Democrático de Direito. A relação de amor e ódio da Federação para com sua célula mater, que é o Município, acima relatada, agora apaziguada pela nova Carta, no entanto, já de há muito preocupava nossos melhores doutrinadores, atentos à peculiar situação histórica de nosso direito e nossa divisão político-administrativa. Como bem ensina Hely Lopes Meirelles “o Município brasileiro é entidade estatal integrante da Federação. Esta integração é uma peculiaridade nossa, pois em nenhum outro Estado Soberano se encontra o Município como peça do sistema federativo, constitucionalmente reconhecida. Dessa posição singular do nosso Município é que resulta a sua autonomia político-administrativa, diversamente do que ocorre nas demais Federações, em que os Municípios são circunscrições territoriais meramente administrativas”. Na lição de Pontes de Miranda – “A respeito da autonomia dos Municípios, muita literatura tem-se feito em torno da significação fundamental dos Municípios. Decorre isso do grave erro de considerarmos antecedentes da vida política brasileira antecedentes de outros povos, cujos elementos étnicos e históricos foram assaz diferentes. À frase prestigiosa – O Município é a célula, a fonte, a pedra angular da Democracia” – substituamos outra, um tanto desconcertante: “o que temos não foi feito em prol do Município; nós é que estamos, de longa data, a fazer e desfazer dos Municípios”. Temos assim que a Constituição de 1988, efetivamente, “pôs o dedo” na ferida aberta no seio da Federação, constatando o quadro infeccioso da centralização de atribuições legislativas e administrativas – produzido pela União em conluio com os estados, cuja maior evolução deu-se nas últimas décadas do período de regime militar, para, então, agir profilaticamente, de forma a devolver aos municípios o controle territorial que sempre detiveram ao longo da formação da Nação Brasileira em cinco séculos de existência. II. O Município e a Constituição de 1988 A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 reza competir aos Municípios (art. 30), entre outras funções, legislar sobre assuntos de interesse local, suplementar a legislação federal e a estadual no que couber e promover adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. O Município pode, ainda, legislar sobre qualquer outro assunto de seu interesse, como, por exemplo, a organização dos serviços públicos locais. É preciso ressaltar: a Carta, com efeito, suprimiu o termo “peculiar”, de cunho claramente excludente, até então adotado na esfera constitucional republicana, para firmar competência legislativa do Município sobre assuntos de “interesse local”, termo de cunho claramente inclusivo, condizente com o status de ente federado autônomo, podendo, ainda, exercer atividade legislativa suplementar aos estados e à União. No exercício de sua competência legislativa, o Município deverá, em primeiro lugar, elaborar Lei Orgânica Municipal, que disciplinará sua organização e estabelecerá normas sobre o Poder Executivo e o Poder Legislativo municipal. A Constituição de 1988, além de declarar a autonomia da Municipal, prevê as hipóteses excepcionais de intervenção da União nos Estados e, destes, nos Municípios. Portanto, não resta dúvida quanto à competência legislativa do Município, decorrente de sua autonomia político-administrativa, que é constitucionalmente reconhecida. De outro lado, o sistema federativo supõe a divisão de competências legislativa e implementadora entre as diversas entidades da federação. A legislativa se expressa mediante a emissão de textos normativos, já a implementadora manifesta-se por meio da prática de atos de execução daqueles textos . Por óbvio que, devido à rápida sucessão constituições no transcorrer da república, as leis editadas no período respectivo a cada carta, por absoluta impossibilidade de renovação legislativa, foram sendo “recepcionadas” naquilo em que não colidissem com o novo regime constitucional em vigor. O instituto da “recepção” constitucional dos textos legais, contudo, não apenas implicou, e implica, no descarte ou admissão pura e simples de cada regra face à Ordem em vigor, como também, e principalmente, na revisão hermenêutica e exegética, ou seja, em uma nova leitura do diploma legal sob a nova ótica ordenatória da República, sob pena de ocorrer inconstitucionalidade por desvio de finalidade na implementação do dispositivo recepcionado. O ato de olvidar, por exemplo, o revigorado e ampliado princípio da autonomia municipal, na implementação de regra editada anteriormente à nova ordem constitucional, fere o instituto da recepção e gera, com efeito, flagrante inconstitucionalidade. Esse “choque de constitucionalidade” há de ser observado, em especial, na implementação do arcabouço normativo que tutela o meio ambiente, erigido em sua maior parte no auge do chamado Regime Militar, ditatorial e centralizador, na década de 70 até meados dos anos 80, no século passado. Essa estrutura legal abrange medidas regulatórias que desconsideram totalmente a figura da administração municipal nas ações de planejamento, ordenamento e controle da poluição. De fato, o estamento tecnocrata, então no poder, entendia a administração municipal como hiposuficiente para o exercício do controle territorial e obstáculo para a implementação das ações unilaterais e policialescas, adotadas pelo sistema de gestão ambiental, então ideologicamente militarizado, que gerenciava as fontes de poluição, em especial as industriais, como atividades de interesse para a “segurança nacional”. O Instituto da Recepção Constitucional, destarte, há de abranger o exercício da hermenêutica, recompondo o cenário federativo no qual passa a ser implementado esse conjunto de regras, bem como se desdobrar na aplicação exegética dessas normas, visando o respeito à autonomia municipal e a inclusão da administração local como ente suficientemente e constitucionalmente apto a assumir atribuições de gestão ambiental (planejamento, ordenamento, fiscalização e licenciamento) na esfera comum de competências federativas e no que tange ao interesse preponderantemente local. III. A Tutela do Meio Ambiente e o Município No tocante à tutela do meio ambiente a Constituição Federal de 1988 estabelece: Competência legislativa Cabe à União traçar o arcabouço legislativo básico. Para tanto, legisla concorrentemente com os Estados e o Distrito Federal, sempre através de normas gerais. Portanto, aos Estados e ao Distrito Federal cumpre exercer função legislativa suplementar das normas gerais. O Município, nesse quadro, detém competência legislativa suplementar em relação à União e aos Estados, na forma do artigo 30 da C.F.. Competência implementadora Possuem, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, competência implementadora comum para a prática de atos materiais de tutela do meio ambiente. São dois os princípios fundamentais que determinam a atribuição de competência aos Municípios em matéria ambiental o da descentralização, inerente ao modelo de federação adotado no Brasil e, o da máxima proximidade da gestão ambiental aos cidadãos, expressivo da idéia de que, não sendo o meio ambiente pura abstração teórica, sua proteção há que se fazer aos pés daqueles que sofrem, imediata e diretamente, os efeitos de sua degradação. Portanto, o Município detém competência legislativa suplementar, em relação à União e aos Estados, e atua conjuntamente na salvaguarda do meio ambiente, praticando ações materiais necessárias à implementação dos direitos e deveres que decorrem do ordenamento, mantido o resguardo à sua autonomia. Nos parece evidente que o regime, aqui, é de verdadeira parceria, sem prevalência absoluta de um ente sobre o outro – regime que decorre da noção de federalismo de cooperação. Contudo, isso só não basta, eis que há necessidade de identificarmos as hipóteses de intervenção cooperada dos vários níveis da Administração Pública, até mesmo porque “cooperação” não significa sempre atuação simultânea e conjunta. No que tange à competência implementadora, a Constituição de 1988 limitou-se a estabelecer que “Lei Complementar fixará normas para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional”. Essa lei complementar, no entanto, inexiste, restando ao Operador do Direito apreciar o conjunto de normas ambientais que constituem o chamado SISNAMA – Sistema Nacional do Meio Ambiente, dentro das novas regras de competência comum e de autonomização dos entes federados. Salvo o previsto expressamente em lei, seja complementar ou ordinária, há apenas um critério para a solução de conflitos de competência implementadora em matéria ambiental: o do interesse ambiental ameaçado. Portanto, cabe, ao operador ambiental, a construção do sistema adequado à implementação do federalismo cooperador, tarefa que não é simples. Mas, para tanto, conta o gestor da administração com algumas diretrizes das quais pode lançar mão, como o conceito ampliado de interesse local na fixação de competência implementadora prevalente do município no exercício de função comum aos entes federados. Estando a repercussão ambiental imediata da atividade ou empreendimento restrita aos limites do Município, caracteriza-se o interesse preponderantemente local. A competência implementadora, aqui, passa a ser exclusiva do Município. O interesse ambiental preponderantemente local configura vis atractiva em relação à competência implementadora, especialmente em sede de licenciamento. Conforme lição do respeitado doutrinador Edis Milaré – “Atento a isso, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, no exercício da sua competência de estabelecer normas técnicas e administrativas para a execução das regras gerais e abstratas contidas na Lei nº 6.938/81, editou a Resolução CONAMA nº 237/97, reordenando o licenciamento ambiental em todo território nacional, dando ênfase ao município como ente federativo e atribuindo-lhe funções específicas na gestão do meio ambiente, em particular no que refere aos interesses locais”. De fato, a Resolução CONAMA n. 237/97, não “dá ênfase ao Município”, apenas cumpre com o ordenamento constitucional sob o qual foi editada, atualmente em vigor, e que insere o município na administração do licenciamento ambiental. Nesse sentido, o artigo 7º da referida resolução determina que os empreendimentos e atividades serão licenciados em um único nível de competência. Todavia, tal exclusividade está sujeita a pressupostos e a limites, ora de ordem político-administrativa, ora de ordem material. Ademais, note-se que a exclusividade da competência implementadora municipal pressupõe, mesmo quando se trata de interesse preponderantemente local, a existência de órgão de gestão ambiental na municipalidade, garantida, sempre, a participação pública nos processos de formulação e deliberação. Ressalte-se que a exclusividade do exercício da competência implementadora nem sempre é universal, abrangendo toda e qualquer atividade de implementação. Isso importa que o interesse ambiental preponderantemente local pode resultar no afastamento das agências estaduais e nacionais da administração em certos temas, como o licenciamento ambiental, não o impondo, contudo, em outros, como a adoção de critérios de controle da poluição e imposição de sanções. Faz-se necessário, porém, apartarmos as equivocadas noções de licenciamento ambiental e controle da poluição. Licenciamento ambiental é atividade vinculada ao ordenamento territorial, decorrente do planejamento e estabelecimento de diretrizes para o uso do solo, cujo objetivo é prevenir a degradação do meio ambiente. Ou seja, o licenciamento, como instrumento de prevenção, visa assegurar que não sejam praticados atentados contra o meio ambiente. Por sua vez, o controle da poluição é típica expressão do poder de polícia, mesmo que sob alguns aspectos assuma caráter preventivo, como na fixação de padrões de qualidade do ar p.ex – é mecanismo fundamentalmente repressivo, importando a imposição de sanções administrativas, atuando freqüentemente, post factum. Como os Municípios não eram considerados entes federados constituidores da Republica, o que ocorreu com o advento da Constituição Federal de 1988, a legislação ambiental, quando de sua formulação, não absorveu o conceito de autonomia dos Municípios em sua Política Nacional do Meio Ambiente – PNMA, até mesmo porque a Lei nº 6.938/81, anterior à atual Carta Magna, trazia no seu conceito de “sistema” toda a visão hierarquizada de prevalência da administração federal e subsidiariedade das administrações estaduais, como queriam os próceres do antigo regime militar. A referida Lei, contudo, necessariamente observada sob a luz do atual regime constitucional, não nega competência aos Municípios, apenas a omite, inúmeras vezes, ao fazer referência genérica ao órgão ambiental competente. Da mesma forma, ao direcionar a função de execução da política ambiental ao órgão federal ou aos estados, a Lei em referência não exclui expressamente o município e nem lhe retira competência, pois esse ente federado não existia como tal quando da edição da norma. Natural, portanto, que a burocracia estatal, fundada no espírito centralizador federal e estadual, reagisse, adotando inadvertidamente o conceito excludente da atuação municipal no licenciamento e fiscalização ambiental, apegando-se à omissão da norma, num primeiro rompante reacionário ante a nova ordem constitucional. Igualmente natural, por outro lado, que o atento administrador público e os modernos operadores do Direito, aplicando o importante instituto da recepção, insiram o Município no âmbito da referência genérica ao “órgão ambiental competente”, constante da legislação ambiental em vigor, bem como observem a autonomia municipal nos dispositivos concernentes à execução da Política Nacional do Meio Ambiente, tudo em cumprimento da Constituição de 1988. IV. O licenciamento ambiental e o Município A atividade de regulamentação da lei que dispõe sobre a PNMA segue nesse sentido, haja vista o disposto na Resolução CONAMA nº 237/97 que, em seu art.1º, inciso I, adota a seguinte definição: “Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso”. Por sua vez, a Resolução CONAMA nº1 de 1986 que estabelece critérios básicos e diretrizes gerais para o uso e implementação da avaliação de impacto ambiental como um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, atribui a seguinte competência: “Art. 4º. Os órgãos ambientais competentes e os órgãos setoriais do SISNAMA deverão compatibilizar os processos de licenciamento com as etapas de planejamento e implantação das atividades modificadoras do meio ambiente, respeitados os critérios e diretrizes estabelecidas por esta Resolução e tendo por base a natureza, o porte e as peculiaridades de cada atividade”. Há de se notar que o Município é parte constituinte do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, e é denominado órgão local, de acordo com a atual redação do Art. 6º, da Lei nº 6.938/81. O SISNAMA é constituído por um órgão superior, que é o conselho de governo, por um órgão consultivo e deliberativo, por um órgão central, um órgão executor, todos federais, por órgãos seccionais (estaduais) e órgãos locais (municipais). Esses últimos organismos são definidos no mesmo art. 6º da lei acima mencionada, da seguinte forma: “V – Órgãos Seccionais: os órgãos ou entidades estaduais responsáveis pela execução de programas, projetos e pelo controle e fiscalização das atividades capazes de provocar degradação ambiental”; “VI – Órgão Locais: os órgãos ou entidades municipais, responsáveis pelo controle e fiscalização dessas atividades, nas suas respectivas jurisdições”. O mesmo artigo estabelece as competências nos parágrafos seguintes, conforme segue: “§ 1º Os Estados, na esfera de suas competências e nas áreas de sua jurisdição, elaborarão normas supletivas e complementares e padrões relacionados com o meio ambiente, observado o que for estabelecido pelo CONAMA”. “§ 2º Os Municípios, observadas as normas e os padrões federais e estaduais, também poderão elaborar normas mencionadas no parágrafo anterior”. Portanto, note-se, o arcabouço herdado do período autoritário e recepcionado pela Constituição de 1988, ora adaptado, não exclui a competência municipal. Outrossim, quando inocorre adaptação no bojo das normas, como é o caso, por exemplo, do artigo 10 da referida Lei 6.938/81, atinente à observância da licença prévia junto ao órgão federal ou, subsidiariamente, aos órgãos dos estados, trata-se o fato, quando muito, de omissão e não exclusão de competência da Administração Municipal. Ou seja, aplica-se a regra observando-se a autonomia dos entes federados e a competência comum constitucional para a gestão ambiental. Como instrumento regulatório e de diretriz na implementação da Política Nacional do Meio Ambiente, a Resolução CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997, por sua vez, observa as competências constitucionais quanto ao licenciamento ambiental, introduzindo critérios para sua observância pelos órgãos das várias esferas federativas, porém, de maneira eliminatória, mas não excludente. Nessa Resolução, a competência nas três esferas, quais sejam, Federal, Estadual e Municipal, para o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades com significativo impacto ambiental são distribuídas da seguinte forma: Compete ao IBAMA, na esfera federal, o licenciamento ambiental de empreendimentos de âmbito nacional ou regional; ao órgão ambiental estadual ou ao Distrito Federal, compete o licenciamento ambiental dos empreendimentos cujos impactos ambientais diretos ultrapassem os limites territoriais de um ou mais Municípios. Ao órgão ambiental Municipal cabe o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades de impacto ambiental local e daqueles que lhe forem delegadas pelo Estado, por instrumento legal ou convênio. O licenciamento ambiental, portanto, não é procedimento exclusivo de nenhum dos entes da federação, ou seja, tanto a União, como os Estados-membros e os Municípios, são competentes para a prática de tal ato administrativo. No entanto, como já visto, a referida Resolução 237 determina que os empreendimentos e atividades serão licenciados em único nível de competência. Como diretriz disciplinadora da atividade de ordenamento territorial, a resolução encontra-se em harmonia com a orientação constitucional e com as regras gerais de atividade administrativa no âmbito das competências comuns dos entes federados, atendendo aos princípios da legalidade, razoabilidade, eficiência e proporcionalidade, que norteiam a Administração Pública. Para a admissão da regra de licenciamento prevalente, pelo ente municipal que o fizer, constante na Resolução 237/97 CONAMA, o critério de “impacto direto” não poderá ser toscamente aplicado, sem que nele seja entronizado o conceito constitucional de interesse local. Não fosse assim, qualquer padaria – em que pese admitir-se o controle da fonte de poluição (forno a lenha) por meio de critérios da agência estadual – deveria por esta ser também licenciada, quando, materialmente, trata-se de atividade de interesse local e adstrito à competência do Município; o que se dirá de obras de canalização de córregos tributários de rios estaduais, urbanização de fundos de vale, etc… É nesse sentido o parecer de Eros Roberto Grau, para quem o “prévio licenciamento de órgão estadual competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA”, mencionado pela Lei nº 6.938/81, “refere-se somente àquelas atividades degradadoras que não estejam confinadas ao interesse local, em juízo de preponderância, do Município. Entendimento diverso desse importaria violação do texto constitucional, expressivo de agressão ao disposto nos seus artigos 23 e 30″. Por sua vez, afirmam Edis Milaré e Antônio Herman V. Benjamin que, em coerência “com o princípio da distribuição de competências em matéria ambiental, a coordenação do processo de exigência do EIA foi entregue aos órgãos estaduais competentes, exceção feita aos casos de expressa competência federal, da alçada do IBAMA, ou de exclusivo interesse local, a cargo do Município” . Uma vez que obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, impacta preponderantemente área municipal, e inexistindo outro referencial de delimitação de competência, as competências do Estado-membro e da União para licenciar, não prevalecem ante o licenciamento municipal. Nesse sentido decidiu o MM. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, Capital, nos autos de Ação Popular movida em face da Prefeitura do Município de São Paulo e outros – processo nº 264/95, em conexão com Ação Civil Pública sobre os mesmos fatos, promovida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, processo n. 1.162/96, na forma seguinte: “(…) para executar a legislação sobre o tema ambiental, é comum a todos os entes federativos, sendo, no entanto, privativa do Município tal competência, quando o interesse ambiental tratado for preponderantemente local, conforme se depreende da interpretação sistemática dos arts. 23, 24, 30 e 225, todos da CF; o próprio Governo Estadual partilha do entendimento de que “os Municípios, na nova ordem constitucional, além de poderem legislar sobre o meio ambiente, podem criar Conselhos de Meio Ambiente para deliberarem sobre assuntos de interesse local”. Note-se que a questão referia-se ao licenciamento de dois potentíssimos incineradores para resíduos domiciliares e hospitalares, coligados a sistemas de co-geração de energia, em pleno território do Município de São Paulo, inserido, como se sabe, em Região Metropolitana… Portanto, resta claro que os Municípios têm competência para conceder licença ambiental de empreendimentos localizados em sua jurisdição, vez que possuem competência para legislar e atuar nesse sentido. V. A capacitação dos municípios para implementar Avaliação de Impacto Ambiental no seu licenciamento Se devem licenciar, por óbvio que devem, e podem, os Municípios, executar a Avaliação de Impacto Ambiental das atividades a serem licenciadas. Nesse sentido, os Municípios devem e podem exigir a feitura e apreciar os instrumentos de AIA previstos no ordenamento federal, cujas diretrizes haverão de seguir como expressam as resoluções do CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente. A Avaliação de Impacto Ambiental – AIA, como gênero, e suas várias espécies de instrumentos públicos, como o Estudo Prévio de Impacto Ambiental, o Relatório Ambiental Simplificado, o Relatório Ambiental Preliminar, o Estudo de Impacto de Vizinhança, a Avaliação Ambiental Estratégica, etc., constituem fase integrante do procedimento de licenciamento ambiental, e não podem ser vistas de forma dissociada deste. Constitui a AIA, instrumento de implementação do princípio da prevenção, e considera, na sua aplicação, os demais instrumentos desse mesmo princípio, quais sejam: o mapeamento ecológico e o inventário das fontes de poluição e remanescentes naturais, o planejamento integrado e o ordenamento territorial, no sentido de conferir ou não viabilidade ao empreendimento ou atividade que se pretende implantar em determinado território. A espécie de Avaliação a ser executada (EIA-RIMA, RAS, RIVI, etc.), bem como o órgão licenciador que irá apreciá-la, dependerá da significância do impacto potencial do empreendimento, o que demandará informação técnica, material, e previsão legal, e a prevalência do interesse no impacto produzido, na forma da regra constitucional. Nesse sentido, o Município, se deve licenciar, deve e pode adotar os procedimentos de Avaliação de Impacto como meio de informar e justificar o licenciamento ambiental de atividades de seu interesse. Para tanto, não há tutela do estado ou da união nessa atividade, pois o que deve ser resguardado pela municipalidade é a observância das diretrizes legais, postas pelas regras gerais estatuídas pelo CONAMA, e diretamente aplicáveis. Nesse procedimento, deve e pode a municipalidade socorrer-se de parâmetros de emissão, normas de qualidade e outras referências dispostas no horizonte normativo do SISNAMA, só não devendo faze-lo no caso de possuir disposição legal própria a respeito. Aliás, o SISNAMA, como instrumento de cooperação articulado, presta-se justamente a isso, sem o que não teria motivação legal para sua existência, obrigando cada ente federado a desenvolver extenso regramento para autorizar a atividade de seus respectivos órgãos de controle. Esse, aliás, o sentido do inciso II do art. 30 da Constituição Federal, ao conferir ao Município competência para suplementar, no que couber, a legislação federal e estadual, o que significa dizer, no âmbito da competência comum, não havendo conflito com a legislação local, as normas e diretrizes federais, bem como os parâmetros estaduais, podem ser aplicados diretamente pelo município, ou serem, por ele, suplementados. Quanto á capacitação técnico-legal do Município, a norma federal passa a ser considerada norma geral, não podendo, descer a minúcias no ordenamento orgânico a ser adotado pelos estados ou municípios, pois incidiria em violação do princípio da autonomia federativa. Prevalece, nesse sentido, o disposto na diretriz do CONAMA, posta na Resolução 237/97, que regula a matéria, ao inserir no SISNAMA os órgãos municipais, desde que estruturados no âmbito da respectiva administração e constando um Conselho no qual se verifique a participação da sociedade civil. A capacitação técnica, por óbvio decorrerá da estrutura de cada órgão e da forma de administração peculiar a cada município, respeitada sua autonomia. VI. Do licenciamento de empreendimentos de significativo impacto ambiental pelo Município, sob a nova Ordem Urbanística. A gestão ambiental expressa-se pelo controle social sobre o uso da propriedade, dentro dos parâmetros postos pela Ordem Econômica e Social e pelo Estado Democrático de Direito, visando conferir-lhe Função Social. Não é por outro motivo que o artigo 182 da Constituição Federal determina que a propriedade urbana cumprirá sua função social, quando utilizada de acordo com o ordenamento territorial do município, expresso no seu plano diretor. Desta forma, patente que o uso sustentável e, portanto, o cumprimento da função social da propriedade (finalidade da gestão pública ambiental) compete, primordialmente, ao Município, a primeira unidade de gestão territorial da federação brasileira. Esse é o sentido posto, em cumprimento aos artigos 182 e 183 da Carta de 1988, pelo Estatuto da Cidade – Lei Federal n. 10.257 de 2001, diploma legal que consagrou a autonomia municipal conquistada pela Constituição, isso após 12 anos de difícil trâmite legislativo no Congresso Nacional. De fato, ao instituir o conceito de “Ordem Urbanística” em seu texto, o Estatuto da Cidade vincula o cumprimento da função social da propriedade urbana àquela Ordem, seguindo entre outras diretrizes a “garantia do direito a cidades sustentáveis”, como reza o inciso I do seu art. 2º. Vai mais além o Estatuto, indicando uma relação articulada da função social da propriedade com o macro-conceito de função social da cidade, entendida esta última como a conjugação no coletivo do cumprimento da função social das propriedades inseridas no ambiente da cidade. Temos aí a reprodução do macro-bem econômico e jurídico do “meio ambiente ecologicamente equilibrado”, como bem de uso comum do povo, tal como prescreve o art. 225 da Constituição Federal, transferido para a estrutura das manchas urbanas, vinculando sua preservação para as presentes e futuras gerações (cf. caput do art. 2º. do Estatuto da Cidade). Nesse sentido, para cumprimento de todas as diretrizes impostas em função da sustentabilidade das cidades, patente a competência, agora constitucional e regulada por lei federal própria, do município, para implementar seu próprio sistema de gestão ambiental, realizar avaliação de impactos ambientais e, portanto, licenciar empreendimentos de significativo impacto ambiental no âmbito de seu território. O licenciamento, assim, passa a seguir o novo regime, consoante o princípio da atratividade do interesse, como preceitua a Constituição Federal e reforça o Estatuto da Cidade. Com efeito, se a política urbana tem como diretriz o “o planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial da população e das atividades econômicas do município e do território sob sua área de influência (grifamos), de modo a evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente” (cf. art. 2º., IV do Estatuto da Cidade), não há qualquer restrição a que o Município licencie, seguindo essa diretriz, obras insertas integralmente em sua área de influência, mesmo que possam produzir impactos residuais fora de sua jurisdição, por se tratar de comando de regra geral, consentâneo com o princípio constitucional da atratividade pelo interesse local. As resoluções do CONAMA, ao referirem-se genericamente ao “órgão ambiental competente”, não direcionam o licenciamento das variadas obras de impacto ambiental a este ou aquele ente federado, admitindo, portanto, o licenciamento por qualquer deles, desde que observado o regime disposto em seu regramento. A exceção disposta como regra, na Resolução 237/97 CONAMA, referente à competência dos entes federados municipais para licenciar, de acordo com o alcance do impacto ambiental do empreendimento, como já dito anteriormente, não pode prevalecer face ao princípio constitucional do interesse local. Combinada a disposição constitucional com o conceito de área de influência, posto como diretriz no Estatuto da Cidade, revogada in totum está a regra da competência municipal vinculada ao alcance dos impactos ambientais do empreendimento, criada pela Resolução 237 CONAMA, pois que a nova Lei Federal sobrepõe-se à orientação já inconstitucional daquela Resolução, ainda que aproveitáveis várias de suas outras disposições, como já dito acima. Há que se definir, todavia, o interesse local determinante da prevalência do licenciamento municipal. Como já dito anteriormente, nem todo impacto extensivo ou interesse fiscalizatório que transcenda o âmbito municipal, transfere competência para o licenciamento da atividade para a esfera estadual. Há que se verificar, primeiro, o interesse local prevalente e, segundo, que impactos admitidos ensejariam alteração da esfera de competência para licenciar. Um bom exemplo de como o novo regime federativo poderia ser posto à prova, seria o licenciamento de empreendimentos elétricos com pequeno potencial de impacto ambiental, como preceitua a Resolução 279/2001 CONAMA, bem como outros serviços, concessões e obras de impacto sistêmico, mas cujo interesse local prevaleceria dado ao fato de circunscreverem-se fisicamente no território municipal. A demanda energética, de interesse estratégico para a Federação, uma vez autorizada pelos órgãos de planejamento territorial da União, poderia muito bem ter o seu licenciamento restrito à autoridade local onde iriam se inserir, sem prejuízo das salvaguardas ambientais. Com efeito, a autorização e operação em regime de concessão de instalações de geração de energia constituem matéria de competência exclusiva da União, conforme reza o inciso XII do art. 21 da Constituição Federal. Da mesma forma, compete privativamente à União legislar a respeito da geração de energia (art. 22, IV, da C.F.). Assim, estabelecida a concessão do serviço pela União, deve o licenciamento correr de acordo com o estabelecido, igualmente, pelo regramento federal. Nesse sentido, se estabeleceu a União regime especial de licenciamento, não definindo esfera de competência para o procedimento, o Município deve e pode licenciar a unidade autorizada, adotando, por seu turno, acorde com suas próprias diretrizes, as diretrizes postas pela Resolução Federal aplicável. A necessidade de articular licenças e autorizações de esferas diversas, como as relativas a autorização para supressão de cobertura arbórea, outorga de recursos hídricos, concessão de lavra ou serviços, licenças de órgãos de preservação cultural e paisagística, etc, não desnaturam a competência prevalente, territorial, para o município encarregar-se do licenciamento ambiental do empreendimento, desde que siga as diretrizes indicadas para o seu processamento, dentro do regime constitucional e proceda à articulação com os demais entes federados na análise das demais autorizações pertinentes, como, aliás, ocorre em todas as demais esferas, no licenciamento ambiental de atividades diversas… Deve o Município organizar e administrar os serviços públicos de interesse local (art. 30, V, da C.F.), bem como suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Com efeito, mesmo serviço público de concessão federal, uma vez autorizado pela União, integra o interesse prevalente da comunidade aonde venha se localizar, e à qual vai, prioritariamente, servir. Compete, outrossim, ao Município, o ordenamento do uso do solo. O licenciamento ambiental, como manifestação do exercício desse ordenamento há de abranger as atividades de prestação de serviço público essencial a serem instaladas no Município, e, sendo a atividade de ordenamento do solo, prevalentemente municipal, a instalação e a operação dos serviços de geração de energia, mineração ou outros similares, devem ser, prioritariamente, licenciados pelo município onde irão se inserir. VII. Da incidência de autorizações e outorgas federais e estaduais no licenciamento municipal. Não se encontrando, portanto, o licenciamento ambiental da atividade de significativo impacto ambiental, muitas vezes, adstrito exclusivamente a um ente federado, e havendo competência comum nessa matéria, na forma do artigo 23 da Constituição Federal, vigora o princípio da atração da tutela da atividade pelo ente mais próximo. Prevalecerá o licenciamento municipal, se executado na forma das diretrizes e critérios estabelecidos para a atividade em tela. A análise de viabilização ambiental, instalação e operação de atividades de significativo impacto e influência complexa, inda que autorizadas administrativamente pela União ou pelos estados, deverão, então, seguir procedimento próprio do ente federado municipal, que esgotará a instância de tutela administrativa específica para o licenciamento ambiental, nos moldes do princípio de competência comum constitucional, sem prejuízo da observância dessa e das demais autorizações emitidas extra-município. No mister de proceder ao licenciamento ambiental, deve e pode a municipalidade buscar informações de todos os órgãos federais e estaduais vinculados à autorização para a atividade de geração de energia, e exigir a obtenção de autorizações pontuais, como a de desmatamento de área de preservação, outorga de uso de recurso hídrico, etc. Tais informações, autorizações e outorgas, em nada desnaturam a competência municipal, pelo contrário, reforçam sua atividade de controle sobre o uso do solo. Uma vez apresentada toda documentação pertinente, cumpre ao Município prosseguir com o licenciamento. Por óbvio, resistências não justificadas, de ordem política, não fundamentadas tecnicamente, em especial quando relacionadas a atividades de interesse regional podem e devem ser dirimidas, requerendo-se a tutela judicial específica para a resolução do conflito, note-se, o que só reforça a competência do município, agregando-lhe maior responsabilidade face ao controle territorial da federação. VIII. Da aplicação de normas e padrões de qualidade ambiental e de emissões pelo Município. Outrossim, partindo-se da suposição material que os impactos produzidos pela instalação do empreendimento estendem-se para além do território do município, há de se analisar que impactos teriam o condão de modificar regra de competência comum, desautorizando o licenciamento municipal. Primeiro. Nada desautoriza o licenciamento municipal, que deve e pode abalizar os impactos transcendentes, na medida em que utilizará critérios e diretrizes fixadas pelo CONAMA, e mesmo norma de emissão estadual, se for o caso, tornando eficaz sua avaliação de molde a justificar o ato de licença ou indeferimento. Segundo, partindo-se do pressuposto de que se trata de empreendimento que demandará recurso hídrico, com devolução de efluentes ao corpo d’água, há de se constatar, na análise dos estudos apresentados como balizadores do licenciamento, que demandas hídricas poderiam representar a perda da competência municipal para licenciar a atividade. Não havendo despejo significativo de efluentes em curso d’água que justifique conflito de interesses federativos à jusante do empreendimento, restringe-se a questão da demanda de água para a termelétrica, sob o ponto de vista da outorga de uso do recurso. Nesse sentido, interfere órbita de competência diversa da análise territorial que caracteriza o aspecto ambiental do empreendimento. Com efeito, a destinação da fração do recurso hídrico para o sistema de geração de energia, atende a parâmetros vinculados ao Sistema Nacional de Recursos Hídricos, que dispõe sobre a outorga da água, atendidos os preceitos de reserva e garantia da multiplicidade de usos na bacia. Há clara divisão de atribuições nesse campo. A outorga do uso do recurso hídrico pressupõe avaliação e mensuração da derivação da água em relação à vazão da bacia, que deve ser exercida pelos órgãos componentes do SNRH. Tratando-se de bacia federal, a outorga e permissão competem à Agência Nacional de Água, ouvidos os órgãos federais interessados e o órgão estadual de administração das outorgas, se for o caso. Isto posto, verdadeiro contra-senso submeter a outorga já concedida ao crivo do licenciamento ambiental. Configurado estaria o bis in idem em prejuízo da eficiência estabelecida no artigo 37 da Constituição Federal, como princípio da Administração Pública. Ao órgão licenciador ambiental compete considerar a outorga já efetuada, bem como registrar os efeitos já derivados do ato, devidamente considerados pela autoridade encarregada de zelar pela qualidade e quantidade do recurso. Para este exercício, basta o órgão municipal, pois não haveria conflito federativo no cumprimento de ato de outorga cuja competência está claramente definida na legislação federal ( Lei Federal n. 9.433/97, arts. 11 e 12). De outro lado, mesmo que existentes efluentes a serem despejados no curso d’água, haveria necessidade de ocorrer impactos significativos, que transcendessem os limites de concentração permitidos, para fomentar conflito federativo que justificasse interesse regional prevalente. A adoção de sistemas legalmente reconhecidos, para o controle dos efluentes, ainda que pudessem sofrer fiscalização posterior de agência estadual, não retira a prevalência do licenciamento municipal, posto que efetuado dentro dos limites da lei. O contrário, mais uma vez, significaria estabelecer a desconfiança entre entes federados na observância de lei que se aplica a todos… Por sua vez, a extensão e concentração dos poluentes atmosféricos, para demandar conflito de interesse federativo, retirando do município o pressuposto de isenção para analisar o fato no seu processo de licenciamento, haveria de ocorrer em níveis tais que tornassem inconfiáveis os sistemas de monitoramento adotados pela municipalidade para o controle das concentrações. Prevendo-se níveis controláveis das emissões, respeitados os limites de concentração estabelecidos em lei, enquadram-se aquelas no conceito excipiente de poluição previsto no artigo 3o. , III, letra “e” da Lei 6.938/81, desautorizando qualquer adjetivação de significância ao impacto mensurado. Restaria mensurar os efeitos cumulativos dos poluentes atmosféricos sobre os corpos receptores. Nesse sentido, inda que haja dispersão para além dos limites municipais, há de se verificar a nocividade das mesmas, utilizando-se parâmetros científicos confiáveis e diretrizes legais estabelecidas. Para esse exercício, foge a qualquer raciocínio de lógica jurídica transferir-se a sede de licenciamento, do município para a esfera estadual, para que se utilizem os mesmos parâmetros de mensuração, com resultados que podem ser auferidos pela autoridade municipal, balizando da mesma forma sua decisão sem prejudicar o cumprimento da lei. Tais impactos, vistos nesses parâmetros, não retiram o interesse local prevalente a determinar o licenciamento municipal. A significância do chamado impacto intermunicipal deve ser, portanto, de natureza conflituosa, para reclamar uma transferência de esfera de competência federativa, caso contrário, prevalece a avaliação e a jurisdição municipal, pois, preponderantemente, a gestão ambiental, é de ordem territorial, e o seu ordenamento, via de regra compete ao município, resguardado sua autonomia. IX. Conclusão Face ao exposto, admissível e recomendável o licenciamento ambiental pelo Município, posto constituir unidade autônoma hierarquicamente equiparada à União e aos Estados, conformando a República Federativa do Brasil, nos termos da Constituição de 1988. Deve a legislação ambiental ser aplicada de acordo com o ordenamento constitucional, atendendo-se à nova hermenêutica federativa, e à exegese de inserção municipal no Sistema Nacional de Meio Ambiente. A competência municipal para o licenciamento de atividades potencialmente poluidoras, rege-se, constitucionalmente, pelo princípio da atratividade, inserido no conceito prevalente do interesse local, conforme dispõe o artigo 30 da Carta de 1988, reforçado legalmente pelo conceito de área de influência, aposto na diretriz de planejamento territorial, distribuição espacial da população e das atividades econômicas, conferida à sustentabilidade das cidades pelo Estatuto da Cidade. É perfeitamente factível o licenciamento ambiental municipal de obras de impacto ambiental significativo, desde que inseridas integralmente na sua jurisdição, mesmo que produzam impacto ambiental residual que transcendam os limites do seu território, vez que a constituição e a legislação atribuem ao Município competência para tanto. O licenciamento ambiental de obras de impacto significativo deve ser efetuado de maneira simplificada pelo Município, articulado com o interesse dos demais entes federados, firmando-se a organização municipal como a primeira unidade de controle territorial da Federação Brasileira.

Por Antonio Fernando Pinheiro Pedro INTRODUÇÃO A poluição sonora é uma questão ambiental no Brasil que possui lacunas em sua regulamentação o que, via de regra, causa grandes inconvenientes para os empreendedores, especialmente os operadores de rodovias públicos e privados, que sofrem exigências espúrias por parte dos órgãos ambientais para mitigação deste problema. Exigências relativas à mitigação de poluição sonora em rodovias têm sido comum entre os órgãos ambientais dos Estados, muitas vezes ameaçando a viabilidade dos empreendimentos. Pela legislação brasileira, atualmente, a poluição sonora é tratada sob dois aspectos: (i) restrições às fontes fixas, tais como estabelecimentos de lazer, bares e restaurantes, que estão sujeitos aos limites de decibéis determinados, na maioria das vezes, de acordo com a categoria municipal de ocupação em que estão inseridos; e (ii) fontes móveis, sobretudo veículos automotores que estão sujeitos às regras estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro, notadamente a obrigatoriedade da inspeção veicular, que “deveria” fiscalizar os limites de emissão de ruídos advindos dos automóveis. A abordagem desse trabalho visa analisar a legalidade das exigências de medidas de mitigação de poluição sonora atribuídas às empresas que operam rodovias, que, conforme será demonstrado, não se enquadram em nenhuma disposição legal prevista em nosso Direito Positivo. 2. Competências atribuídas pela Constituição Federal de 1988 A Constituição Federal de 1988 classifica as competências atribuídas às esferas de poder: União, Estados, Distrito Federal e Municípios, distinguindo-as quanto à sua natureza, onde se vislumbram dois tipos, quais sejam: a Competência Legislativa e a Competência Material (ou Administrativa). Preliminarmente, cabe a conceituação das duas espécies de competência previstas pela Constituição Federal de 1988. – Competência legislativa – capacidade outorgada pela Constituição Federal a um ente da Federação, para estabelecer normas sobre uma determinada matéria; – Competência material – capacidade atribuída pela Constituição Federal para o exercício de atividades específicas. Vale trazer à colação ensinamento do Professor José Afonso da Silva, in Curso de Direito Constitucional Positivo, 9ª ed., Ed. Malheiros, pg. 455, quanto a essa divisão: “Sob esses vários critérios, podemos classificar as competências, primeiramente, em dois grandes grupos com suas subclasses: (1) competência material, que pode ser: (a) exclusiva (art. 21); e (b) comum, cumulativa ou paralela (art. 23); (2) competência legislativa, que pode ser: (a) exclusiva (art. 25, §§ 1º e 2º); (b) privativa (art. 22); (c) concorrente (art. 24); (d) suplementar (art. 24 § 2º)” (grifamos). 2.1. Competência legislativa A Competência Legislativa é definida como capacidade outorgada pela Constituição a uma ou mais entidades da Federação, para estabelecer normas sobre determinada matéria, podendo ser: (i) exclusiva, (ii) privativa, (iii) concorrente, (iv) suplementar ou (v) remanescente. É exclusiva a Competência Legislativa quando atribuída restritivamente a um único ente federativo, para legislar sobre determinada matéria, sem, contudo, haver possibilidade de delegação a outro ente da Federação, como, por exemplo, a competência legislativa atribuída aos Municípios, no artigo 30, inciso I da Constituição Federal, para legislar sobre assuntos de interesse local. Entende-se como Competência Legislativa Privativa, aquela atribuída a um só ente federativo para legislar sobre determinada matéria, sendo, entretanto, facultada sua delegação. A delegação ocorre quando uma entidade federativa recebe a competência daquela que era, originariamente, a competente para dispor sobre determinada matéria. Tal delegação deve ser precedida de prévia lei autorizativa. Verifica-se Competência Legislativa Concorrente quando a competência para legislar sobre determinada matéria é atribuída a mais de um ente da Federação. Especialmente sobre a Competência Legislativa Concorrente, esclarece o professor Manoel Gonçalves Ferreira Filho, in Comentários à Constituição Brasileira de 1988, vol. 1, 2ª ed., Ed. Saraiva, pg. 182: “Fala-se em competência concorrente sempre que a mais de um ente federativo se atribui o poder de legislar sobre determinada matéria. Ou seja, relativamente a uma só e mesma matéria concorre a competência de mais de um ente político” (grifo nosso).” Competência Legislativa Suplementar é aquela atribuída aos Estados para complementar normas gerais editadas pela União, aludidas no artigo 24 da Constituição Federal. Por fim, Competência Legislativa Remanescente, que é a competência atribuída a um ente político (no direito brasileiro, somente ao Estado), após a enumeração das competências dos outros entes da Federação, cabendo ao primeiro tudo o quanto não foi atribuído aos demais (União e Município). 2.2. Competência Material A Competência Material é aquela atribuída pela Constituição Federal a uma ou mais entidades da Federação para o exercício de atribuições executivas específicas, podendo ser: (i) exclusiva; (ii) comum e (iii) remanescente. É Exclusiva, a Competência Material, quando atribuída restritivamente a um único ente federativo, para executar determinadas funções, sem, contudo, haver possibilidade de delegação a outro ente político. Tem-se a Competência Material Comum sempre que a Constituição Federal outorgar competência material aos vários entes da Federação, referindo-se à participação de um ou mais organismos políticos na execução de atividades acerca da mesma matéria. Na Competência Material Comum, a competência de um ente federativo não exclui a competência dos demais, estando os entes federativos hierarquicamente igualados com relação à matéria compartilhada, conforme nos ensina o Professor Ives Gandra da Silva Martins, in Comentários à Constituição do Brasil, 3º volume, tomo I, 1ª ed., Ed. Saraiva: “A competência comum, diferentemente da concorrente e da privativa, é a competência que os entes federados exercem sobre a mesma matéria, sem, todavia, interferir nas áreas de respectiva atuação, sobre não haver, em seu exercício ordinário, hierarquia de exclusão”. Aos aspectos apontados, acrescente-se a previsão disposta na Carta Magna, em seu artigo 23, parágrafo único, quanto à competência comum entre as três esferas políticas, para a execução dos atos discriminados em seus doze incisos, visando, deste modo, manter o equilíbrio do desenvolvimento e do bem estar social em âmbito nacional, segundo normas de cooperação a serem fixadas por lei complementar. Do mesmo entendimento acima exposto partilha o Professor Manoel Gonçalves Ferreira Filho, in Comentários à Constituição Brasileira de 1988, vol. 1, 2ª ed., Ed. Saraiva, pg. 178: “Competência Administrativa comum. Esta é a que é confiada a mais de um ente federativo concomitantemente, sendo, portanto, comum a eles. … É de se observar que o fato de serem as competências aqui enunciadas comuns à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios não importa em que estejam todos estes entes em pé de igualdade em relação a matéria que visam”. Quanto à repartição de competência material entre os entes federativos, tem-se, ainda, a Competência Material Remanescente, que é a competência atribuída a um ente após a enumeração das competências dos outros entes da Federação, cabendo ao primeiro (sempre ao Estado, deve-se esclarecer), tudo o quanto não foi atribuído aos demais. 3. Competências em meio ambiente na Constituição Federal de 1988 Analisado o panorama geral das competências constitucionais, apresenta-se estudo mais específico das competências atribuídas pela Lei Maior para a proteção do meio ambiente, para identificar de que forma a regulamentação da poluição sonora está disciplinada. 3.1. Competência Legislativa em face da Proteção ao Meio Ambiente No âmbito da Competência Legislativa, o artigo 24, inciso VI, da Constituição Federal prevê Competência Concorrente da União Federal e dos Estados, para legislar sobre a proteção do meio ambiente e o controle da poluição, in verbis: “Art. 24 – Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: (…) VI -florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição;” (grifamos). Ressalte-se que no parágrafo 1º do artigo 24 acima transcrito, está previsto que no âmbito de competência legislativa concorrente, a União Federal está limitada à edição de normas gerais, a saber: “§ 1º – No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais.” Ainda no citado artigo 24, os parágrafos 2º, 3º e 4º, estabelecem que aos Estados é atribuída competência para legislar suplementarmente, sobre as normas gerais editadas pela União, a saber: “Art. 24. (…) § 2º. A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. § 3ª. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades. § 4º. A superveniência de lei federal sobre as normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário” (grifamos). Deste modo, os Estados têm Competência Legislativa Suplementar para legislar acerca da proteção do meio ambiente e controle da poluição, não podendo, no entanto, estabelecer normas que conflitem com as normas gerais estabelecidas em lei ordinária federal. Da mesma forma, como citado, em não havendo lei ordinária federal, poderá o Estado legislar suplementarmente acerca das normas gerais, esclarecendo-se que, todavia, uma vez editada a norma federal, suspende-se a eficácia da norma estadual naquilo que lhe for contrário. O inciso II do artigo 30 da Constituição Federal, por sua vez, atribui ao Município a competência para legislar de modo suplementar, e no que couber, à legislação federal e estadual, in verbis: “Art. 30 Compete aos Municípios: (…) II – suplementar a legislação federal e estadual no que couber” (destacamos). (grifamos). Ressalte-se que a Competência Legislativa Suplementar do Município significa dizer que, a este, cabe legislar suplementarmente as legislações federais e estaduais, no que diz respeito à formulação de normas que desdobrem o conteúdo e princípios das normas gerais, não podendo, da mesma forma, legislação municipal contrariar as disposições contidas nas normas estaduais e federais. Do exposto, conclui-se que a Constituição Federal não atribuiu, expressamente a uma única esfera federativa, a Competência Legislativa para legislar sobre poluição sonora. A União Federal, Estados e Municípios podem legislar sobre a matéria ora versada, devendo sempre a legislação municipal ater-se aos ditames da legislação estadual e federal e a legislação estadual coadunar-se com as normas gerais estabelecidas pela União Federal. 3.1. Competência Material em face da Proteção ao Meio Ambiente No que tange à Competência Material, tem-se que o artigo 23, inciso VI, da Constituição Federal atribuiu Competência Comum para a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios promoverem, conjuntamente, a execução de atividades relacionadas à proteção do meio ambiente e ao combate à poluição em qualquer de suas formas: “Artigo 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: (…) VI – proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;”(grifamos) E, em seu parágrafo único, referido artigo determina: “Parágrafo Único. Lei Complementar fixará normas para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional”. Neste contexto, a competência estabelecida neste artigo é material e dispõe que União, Estados, Distrito Federal e Municípios devem, cooperadamente, empreender os esforços necessários à proteção do meio ambiente e o combate à poluição em qualquer de suas formas, inclusive a poluição sonora. 4. Normas de poluição sonora no Brasil Conforme demonstrado, está claro que, nos termos da Constituição Federal, para edição de normas acerca de limites para poluição sonora, cabe à União Federal estabelecer as diretrizes gerais e aos Estados, suplementá-las. Aos Municípios, por sua vez, foi atribuída competência para legislar sobre o assunto, quando estiver configurado interesse local. Anteriormente à década de 90, a poluição sonora era tratada somente no bojo das Contravenções Penais, disciplinadas pelo Decreto-lei nº 3.688/41, como “perturbação do trabalho ou sossego alheios”. Posteriormente, o Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA editou Resoluções com o objetivo de regulamentar o tema. No entanto, os diplomas legais existentes na esfera federal tratam de medidas de controle da poluição sonora da fonte móvel, ou seja, direcionadas a veículos automotores, exigindo adoção de medidas de diminuição do ruído emitido pelo veículo. A Resolução CONAMA 001, de 8 de março de 1990, determina que a emissão de ruído por veículos automotores deve estar de acordo com as normas do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN e as medições devem obedecer os critérios da norma NBR 10.151, da ABNT. A Resolução CONAMA 001, de 11 de fevereiro de 1993, foi editada para “estabelecer, para os veículos automotores nacionais e importados, exceto motocicleta, motonetas, ciclomotores, bicicletas com motos auxiliar e veículos assemelhados, limites máximos de ruído com o veículo em aceleração e na condição parado”. Além de estabelecer os limites de ruídos para as frotas de veículos por tempo de existência, a norma mencionada no parágrafo acima estabelece procedimentos para que os automóveis novos sejam fabricados já contendo novos dispositivos de proteção contra a poluição sonora. A Resolução CONAMA 252, de 1º de fevereiro de 1999, criou limites máximos de ruídos em veículos rodoviários automotores, para fins de inspeção obrigatória e fiscalização dos veículos em uso. A Resolução CONAMA nº 256, de 30 de junho de 1999, em seu artigo 1º, parágrafo único, estabelece que os órgãos estaduais e municipais de meio ambiente serão conjuntamente responsáveis pela implementação dos serviços de Inspeção Veicular de Emissão de Gases Poluentes e Ruídos, a saber: “Art. 1º. A aprovação na inspeção de emissões de poluentes e ruídos prevista no art. 104 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro – CTB, é exigência para o licenciamento de veículos abrangidos pelo Plano de Controle da Poluição por Veículos em Uso – PCPV, nos termos do art. 131 § 3º, do CTB. Parágrafo único – Nos termos desta Resolução, caberá aos órgãos estaduais e municipais de meio ambiente a responsabilidade pela implementação das providências necessárias à consecução das inspeções de que trata o caput deste artigo.” (destacamos) No artigo 2º, a Resolução CONAMA nº 256/99 estabelece prazos para a implementação dos serviços pelos órgãos estaduais e municipais, e determina que, em caso de não cumprimento, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, órgão executivo federal de meio ambiente, assumirá a tarefa de desenvolver a execução dos referidos serviços. Ainda, o artigo 5º, da referida Resolução CONAMA, determina que caberá ao Estado, em articulação com seus Municípios, instituir e implantar o Programa de I/M (Inspeção e Manutenção dos Veículos em Uso), bem como elaborar os PCPV – (Planos de Controle de Poluição por Veículos em Uso). Em seu parágrafo 3º, o artigo 5º da Resolução CONAMA nº 256/99 prevê que os Municípios com frota total, igual ou superior a três milhões de veículos poderão implantar programas próprios, mediante convênio específico com o Estado. Tais atribuições de competência estabelecidas pela norma acima descrita estão de acordo com as disposições de competência relativas ao meio ambiente dispostas na Constituição Federal na medida em que, como já visto, todos os entes da Federação têm competência para a execução dos serviços relacionados à proteção do meio ambiente e combate à poluição. Na esfera do Estado de São Paulo, a Secretaria do Meio Ambiente editou a Resolução SMA 31, de 28 de dezembro de 2.000, que aprova o Plano de Controle da Poluição por Veículos em Uso – PCPV, instituído para o controle de poluição atmosférica e sonora emitida pelos veículos no Estado. Vale abordar, outrossim, para a adequada apreciação do tema, o Decreto Estadual nº 8.468, de 8 de setembro de 1976, que regulamenta o sistema de prevenção e controle da poluição do meio ambiente no Estado de São Paulo e em seu artigo 4º, define as fontes de poluição, a saber: “Art. 4º São consideradas fontes de poluição todas as obras, atividades, instalações, empreendimentos, processos, dispositivos, móveis ou imóveis, ou meios de transporte que, direta ou indiretamente, causem ou possa causar poluição ao meio ambiente.” O artigo 57 de referido Decreto elenca, taxativamente, as fontes de poluição, sujeitas a licenciamento ambiental, in verbis: “CAPÍTULO I Das Fontes de Poluição Art. 57 – Para efeito de obtenção das Licenças Prévia, de Instalação e de Operação, consideram-se fontes de poluição: I – atividades de extração e tratamento de minerais, excetuando-se as caixas de empréstimo; II – atividades industriais e de serviços, elencadas no anexo 5; III – operação de jateamento de superfícies metálicas ou não metálicas, excluídos os serviços de jateamento de prédios ou similares; IV – sistemas de saneamento, a saber: a) sistemas autônomos públicos ou privados de armazenamento, transferência, reciclagem, tratamento e disposição final de resíduos sólidos; b) sistemas autônomos públicos ou privados de armazenamento, afastamento, tratamento, disposição final e reuso de efluentes líquidos, exceto implantados em residências unifamiliares; c) sistemas coletivos de esgotos sanitários: 1. elevatórias; 2. estações de tratamento; 3. emissários submarinos e subfluviais; 4. disposição final; d) estações de tratamento de água. V – usinas de concreto e concreto asfáltico, inclusive instaladas transitoriamente, para efeito de construção civil, pavimentação e construção de estradas e de obras de arte; VI – hotéis e similares que queimem combustível sólido ou líquido; VII – atividades que utilizem incinerador ou outro dispositivo para queima de lixo e materiais, ou resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, inclusive os crematórios; VIII – serviços de coleta, armazenamento, transporte e disposição final de lodos ou materiais retidos em unidades de tratamento de água, esgotos ou de resíduos industriais; IX – hospitais, inclusive veterinários, sanatórios, maternidades e instituições de pesquisas de doenças; X – todo e qualquer loteamento ou desmembramento de imóveis, condomínios horizontais ou verticais e conjuntos habitacionais, independentemente do fim a que se destinam; XI – cemitérios horizontais ou verticais; XII – comércio varejista de combustíveis automotivos, incluindo postos revendedores, postos de abastecimento, transportadores revendedores retalhistas e postos flutuantes; XIII – depósito ou comércio atacadista de produtos químicos ou de produtos inflamáveis; XIV – termoelétricas.” Deste modo, verifica-se que a legislação aplicável ao tema no Estado de São Paulo, ao estabelecer quais as fontes de poluição passíveis de exigências em licenciamento, não contempla a atividade de operação rodoviária entre elas. As normas em âmbito municipal, por sua vez, prevêem o controle da poluição sonora em fontes fixas e ambientes confinados, especialmente em estabelecimentos de lazer e indústrias, e de fontes móveis, veículos automotores, não tratando, em nenhuma norma, de limites de ruídos em rodovias, especificamente. Com a análise realizada acima, podemos concluir que as normas existentes no Brasil sobre a matéria não tratam, portanto, de limites de ruídos em rodovias, ou de fonte de poluição sonora que se pudesse utilizar analogicamente. Assim, não há norma aplicável para limites de poluição sonora em rodovias, razão pela qual não há possibilidade jurídica de serem exigidas medidas de mitigação pelos órgãos ambientais. É de grande valia, neste momento, o seguinte questionamento: nos moldes da regulamentação existente no Brasil, qual o sujeito passivo da obrigação de controlar ou mitigar a poluição sonora existente nas rodovias? A empresa responsável pela sua construção e operação? As empresas fabricantes dos automóveis? Ou o órgão responsável pela fiscalização dos veículos? Cabe acrescentar que o artigo 6º da Resolução CONAMA 252/99 atribui aos órgãos de meio ambiente a responsabilidade pela fiscalização dos níveis de emissão de ruído dos veículos rodoviários em uso, a saber: “Art. 6º. É de responsabilidade dos órgãos estaduais e municipais de meio ambiente e órgãos a ele conveniados, especialmente os de trânsito, a inspeção e a fiscalização em campo dos níveis de emissão de ruído dos veículos em uso, sem prejuízo de suas respectivas competências, atendidas as demais exigências estabelecidas pelo CONAMA relativas aos Programas de Inspeção e Fiscalização (…)” (grifo nosso). Deste modo, não há viabilidade jurídica na transferência, para os Empreendimentos Rodoviários (administrados em muitos casos, mediante concessão de serviço público), da responsabilidade pela mitigação dos efeitos prejudiciais causados pela poluição sonora veicular, atribuída, por lei, aos órgãos ambientais e aos fabricantes dos veículos. Assim, não podem os operadores de rodovias, sejam públicos ou privados, sofrer as conseqüências da inexecução das obrigações de fiscalização por parte do órgão ambiental do próprio Estado, e serem compelidos a arcar com toda a responsabilidade e custo da solução deste problema. E principalmente, não se podem exigir providências para regularização ambiental de problemas de poluição sonora em rodovias, sem que para isso haja fundamento legal ou jurídico para a questão. A Rodovia não é um ambiente confinado, onde se possa auferir a quantidade de poluição sonora. É uma via de transporte, com finalidade pública, que não gera poluição, de qualquer espécie. Não há como atribuir causa a seus operadores, uma vez que é claro que o problema advém dos automóveis que lá circulam. Deste modo, há que haver limites legais à discricionariedade dos órgãos ambientais, para que a ordem de proteção ambiental não inviabilize, por utopia, o necessário desenvolvimento do país e seja coerente com os parâmetros de necessidade de serem cessados ou sanados efetivos prejuízos ao meio ambiente. Sobre o tema, vale trazer o entendimento da doutrina: “Há todavia, que evitar a fácil dramatização do problema, que leva a atitudes radicais e a posicionamentos por vezes utópicos – como diz Lovelock (James E. Lovelock, Caia – um novo olhar sobre a vida na Terra, Edições 70, Lisboa (edição inglesa: 1979:1987), …O risco de alterações ambientais provocadas pelo homem existe – não há que negá-lo – mas é indispensável um grande rigor na análise das questões, pois nem sempre é fácil destrinçar o que é, de facto, devido à acção do homem, do que provem de causas . Por outro lado, mesmo no primeiro caso, as soluções nem sempre são óbvias ou fáceis, sobretudo quando têm implicações profundas de carácter social e económico, podendo mesmo entrar em conflito com direitos elementares de outros, por exemplo em caso de , para utilizar um conceito e a linguagem do Direito. O nosso propósito, no presente texto, é assim tentar mostrar, de forma simples, talvez simplista, que as questões ambientais não podem pôr-se todas no mesmo pé. Há problemas evidentes, embora não ponham em risco a permanência de nossa espécie. Há, em contrapartida, problemas à escala mundial, que eventualmente poderão implicar riscos generalizados e, todavia, não recolhem o consenso de muitos cientistas pouco propensos a aceitar conclusões e decisões drásticas com base em análises e resultados a seu ver não totalmente conclusivos.” (J. J. R. Fraústo da Silva, A Poluição Ambiental – Questões de Ciência e Questões de Direito. In Direito do Ambiente, Instituto Nacional de Administração, 1994 – grifo nosso). Sobre os limites legais para identificar uma fonte de poluição sonora, é entendimento do ilustre Prof. Daniel Roberto Fink, in verbis: “Na doutrina, já se ponderou que a hipótese de poluição sonora exige uma certa ponderação. É que, tendo em vista se o som dotado de certa intensidade, somente se configura a poluição sonora quando o som for capaz de ocasionar prejuízos indicados na legislação.”(Daniel Roberto Fink, “A poluição sonora e o Ministério Público”, Revista de Direito Ambiental, 1999, p.64. – grifamos) No mesmo sentido, dando ênfase para o enquadramento de dano ambiental ou mero aborrecimento para a sociedade, é o parecer do jurista Fábio Siebeneichler de Andrade sobre poluição sonora, com trechos a seguir transcritos: “Cuida-se de situação que, para dizer com a jurisprudência dominante, permanece no patamar de um mero aborrecimento. Não está configurada a situação de constrangimento, de anormalidade, exigida pelas decisões paradigmas. Em outras palavras, não se trata de situação apta a violar interesses extrapatrimoniais, tópicos do direito da personalidade e, muito menos, esfera da dignidade humana. Saliente-se que esta orientação encontra amparo na doutrina! É recorrente a afirmação de que nem toda a hipótese de degradação ambiental pode ser reputada como dano extrapatrimonial ambiental. Este é o dano significativo, anormal, grave, que ultrapassa o limite da tolerabilidade, o que exigirá um exame do caso concreto. Contudo, para que isto ocorresse, deveria estar plenamente demonstrado o dano a este mesmo bem-estar. Isto, porém não ocorre! Mais uma vez é preciso ter presente que a questão sob exame atinge habitantes de uma metrópole, capital de uma dos mais ricos estados da federação. É no mínimo, poço crível que seu bem-estar seja abalado pelo fato de caminhões percorrerem o perímetro urbano…. Trata-se, em essência, de saber se a conduta da empresa contribui para o resultado reputado como lesivo pelo autor. Na esfera do nexo de causalidade, é preciso ter presente que o autor deveria provar prima facie, a existência de uma relação direta de causa e efeito entre a conduta da empresa e o resultado alegado. Esta é a concepção de nexo de causalidade mais rigorosa. Contudo, tal prova não resulta dos autos ou da documentação trazida a analise. Não há elemento que indique ser a atividade da empresa responsável direta, causa, portanto, de uma interferência na qualidade de vida da população.” Ora, a exigência de medidas mitigadoras pelos órgãos ambientais não pode levar em conta alternativa zero, como se não houvesse construção e operação da estrada, sob a interpretação de que ela não deveria existir, por causar aborrecimentos aos moradores da região. Deve haver equilíbrio do desenvolvimento com a preservação ecológica e isso deve ser praticado durante o processo de licenciamento ambiental, momento em que o órgão e o empreendedor devem levar em conta a melhor forma de implantar o empreendimento, necessário ao interesse público, com condições ambientalmente sustentáveis. 5. Ofensa ao Princípio Constitucional da Legalidade A atividade da Administração Pública no Brasil está sujeita a princípios estabelecidos pela Constituição Federal de 1.988, in verbis: “Artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (…)” Com efeito, o princípio constitucional da legalidade implica no Poder Público somente poder agir no estrito cumprimento do que emana a lei. Assim, observa-se que Administração Pública tem limites, não estando livre para fazer ou deixar de fazer algo de acordo com a vontade dos governantes, mas que deverá obedecer a lei em toda sua atuação. Deste modo, se o órgão ambiental exige dos empreendedores rodoviários medidas mitigadoras para o problema de poluição sonora, sem embasamento legal expresso para tanto, está infringindo o princípio da legalidade ao qual a Administração Pública está atrelada. Sobre o tema, cabe trazer à colação os ensinamentos de nosso ilustres doutrinadores do Direito Administrativo: “ADMINISTRATIVO. IMPORTAÇÃO DE BEBIDAS ALCÓOLICAS. PORTARIA Nº 113/99, DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO NÃO PREVISTA EM LEI. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. O ato administrativo, no Estado Democrático de Direito, está subordinado ao princípio da legalidade (CF/88, arts. 5º, II, 37, caput, 84, IV), o que equivale assentar que a Administração só pode atuar de acordo com o que a lei determina. Desta sorte, ao expedir um ato que tem por finalidade regulamentar a lei (decreto, regulamento, instrução, portaria, etc.), não pode a Administração inovar na ordem jurídica, impondo obrigações ou limitações a direitos de terceiros.” (RESP 584798/PE; RECURSO ESPECIAL 2003/0157195-7 Relator Ministro LUIZ FUX. Órgão Julgador T1 – Primeira Turma Data do julgamento 04/11/2004. Data da publicação/fonte: DJ 06.12.2004 p. 205). No mesmo sentido é o entendimento pacífico de nosso Supremo Tribunal Federal, a saber: “…a vontade da Administração Pública é a que decorre da lei. Segundo o princípio da legalidade, a Administração Pública só pode fazer o que a lei permite. No âmbito das relações entre particulares, o princípio aplicável é o da autonomia da vontade, que lhes permite fazer tudo o que a lei não proíbe”.(PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2004, pág. 68 – grifamos). “Na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo o que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o particular significa “pode fazer assim”; para o administrador público significa “deve fazer assim”.(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2004, pág. 88 – grifamos). “A atividade administrativa deve ser desenvolvida nos termos da lei. A Administração só pode fazer o que a lei autoriza: todo ato seu há de ter base em lei, sob pena de invalidade. Resulta daí uma clara hierarquia entre a lei e o ato da Administração Pública que não seja concedido pela lei: o que a lei não lhe concede expressamente, nega-lhe implicitamente. Todo poder é da lei; apenas em nome da lei se pode impor obediência. Por isso, os agentes administrativos não dispõem de liberdade – existente somente para os indivíduos considerados como tais -, mas de competências, hauridas e limitadas na lei.” (SUNDFELD, Carlos Ari. Fundamentos de Direito Público. 3. Ed. São Paulo: Editora Malheiros, Outubro de 1998, p.148). “é o fruto da submissão do Estado à lei. É em suma: a consagração da idéia de que a Administração Pública só pode ser exercida na conformidade da lei e que, de conseguinte, a atividade administrativa é atividade sublegal, infralegal, consistente na expedição de comandos complementares à lei.” (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 6. Ed. revista, atualizada e ampliada. São Paulo : Editora Malheiros, 1995). Neste diapasão, está claro que, pelas regras que regem a atividade pública, os órgãos ambientais não podem exigir dos empreendedores medidas mitigadoras em padrões não previstos em norma jurídica. Outrossim, a ausência de parâmetro legal para a poluição sonora em rodovias não pode ensejar a aplicação inadequada da norma, pelo órgão ambiental, sob pena de estar utilizando discricionariedade não permitida pela Constituição Federal. 6. Conclusão A poluição sonora da malha viária decorre das fontes móveis, os veículos, e não pode ser atribuída aos operadores de rodovias. A reparabilidade dos efeitos nocivos da poluição sonora deve ser atribuída somente ao que lhe dá causa – ausência de fiscalização dos veículos automotores – sob pena de estar em desconformidade com o que deve reger os atos dos administradores.

Por Antonio Fernando Pinheiro Pedro 1. NOTAS INTRODUTÓRIAS. 2. A TRIPLA RESPONSABILIDADE. 3. A RESPONSABILIDADE CIVIL DA PESSOA JURÍDICA. 4. A RESPONSABILIDADE PENAL DOS ADMINISTRADORES GERENTES E CONTRATADOS. 5. A RESPONSABILIDADE PENAL DA PESSOA JURÍDICA. 5.1. Delito formal ou não? 5.2. O que seria “potencialmente poluente” para a lei penal? 5.3. As diferentes sanções e a finalidade da sanção penal. 5.4. A conduta do agente como elemento do crime. 5.5. Circunstâncias objetivas a serem analisadas. 6. STJ PERMITE QUE A PESSOA JURÍDICA RESPONDA POR CRIME AMBIENTAL. 1. NOTAS INTRODUTÓRIAS (1) A pessoa jurídica poderá ser processada criminalmente por conduta lesiva ao meio ambiente. Com o advento da Lei nº. 9.605 de 13 de fevereiro de 1998, o panorama do direito brasileiro mudou definitivamente, ao dispor sobre a possibilidade de criminalização da conduta da pessoa jurídica, e, inovar a forma de apenamento às condutas danosas ao meio ambiente. Sancionada em meio a muitas críticas de setores ambientalistas, sofreu trinta e sete cortes e modificações efetuadas por emendas supressivas na Câmara dos Deputados, e dez vetos presidenciais, a Lei que dispõe sobre Crimes e Infrações Administrativas contra o Meio Ambiente resultou em um texto enxuto, porém, sujeito a interpretações confusas e dependente de regulamentação em alguns casos, dificultando sua imediata implementação e conseqüente adaptação pelas empresas. A Lei nº. 9.605/98 dispôs sobre questões processuais em meio a normas substantivas, isto é, que tratam da tipificação das infrações, fato que revela descuido com a boa técnica legislativa. Seu texto, também, deixa dúvidas quanto à sua aplicabilidade e alcance, razão pela qual é recomendável a leitura atenta pelos interessados. No entanto, como uma abordagem introdutória, se faz necessário o questionamento sobre a questão da responsabilidade dos dirigentes e funcionários da empresa, sua responsabilidade civil, para depois, adentrarmos a questão da responsabilidade penal das empresas, enquanto pessoa jurídica. 2. A TRIPLA RESPONSABILIDADE. A Constituição Federal de 1988 consagrou expressamente, a possibilidade de aplicar as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente, sujeitas aos infratores, pessoas físicas ou jurídicas, as sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. (2) Disposição consagrada também dentro do Capítulo da Ordem Econômica e Financeira, prevendo a possibilidade “sem prejuízo da responsabilidade individual dos dirigentes da pessoa jurídica, estabelecerá a responsabilidade desta, sujeitando-a às punições compatíveis com sua natureza, nos atos praticados contra a ordem econômica e financeira e contra a economia popular. (3) A Lei de Crimes Ambientais foi criada em conformidade com os dispositivos Constitucionais, e inseriu nas suas “Disposições Gerais” as hipóteses de responsabilização das pessoas jurídicas, dos seus diretores e funcionários. Assim é que as empresas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente quando a infração seja cometida “por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade”. (4) Portanto, a responsabilização criminal das pessoas jurídicas encontra fundamento tanto constitucional, quanto infraconstitucional que justifique a aplicação da tripla responsabilidade pelos danos causados ao meio ambiente. 3. A RESPONSABILIDADE CIVIL DA PESSOA JURÍDICA. A regra do art. 3º da Lei de Crimes Ambientais, em que pese correta para a aferição da responsabilidade penal, não o é para a responsabilidade civil das empresas. De fato, o dispositivo poderá propiciar intermináveis debates nos órgão judiciários, quanto à aplicabilidade, à pessoas jurídicas, do princípio da responsabilidade civil objetiva (independentemente de culpa) do poluidor, imposta pelo art. 14 da Lei 6.938/81. Isto porque o referido dispositivo legal, ao dispor como se dará a responsabilização da pessoa jurídica (…”conforme o disposto nesta Lei”…) condiciona o liame de causalidade, isto é, a relação de causa e efeito que leva à responsabilidade pelo dano, à prévia existência de “decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade”. Com efeito, a Lei nº. 9.605/98 cria regra mais restrita ainda que a do vetusto Código Civil de 2002, pois que este, no seu artigo 932, inciso III, dispõe que as empresas são responsáveis pela reparação civil quando o dano for praticado por “o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele;”. A Lei Penal Ambiental contraria, também, o parágrafo 1º do artigo 14 da Lei 6.938/81 (Lei de Política Nacional do Meio Ambiente), que estabelece que o Poluidor (pessoa física ou jurídica) é obrigado, “independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade”. Ora, a regra contida no art. 3º da Lei nº. 9.605/98, de caráter especial, regula como as pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente, pelas infrações e danos ao meio ambiente, e, remete esta responsabilização à figura da vontade do seu representante legal ou contratual ou do órgão colegiado decisório, diferindo específicamente do disposto no Código Civil (que abrange a responsabilidade por atos dos empregados) e do disposto na Lei de Política Nacional do Meio Ambiente (responsabilidade independente de culpa). Como a regra geral imposta pelo art. 2º da Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro determina que a lei posterior revoga a anterior “quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior”, verificamos que, em que pese ter o Presidente da República enfatizado que o art. 14 da Lei 6.938/81 ainda vigorava, como motivação para o veto ao art. 5º. da nova lei (que estabelecia a responsabilidade civil objetiva), essa “boa intenção” não se confunde com a mens legis remanescente no diploma, que abrirá um flanco para uma jurisprudência (decisões judiciais) conservadora e excludente. 4. A RESPONSABILIDADE PENAL DOS ADMINISTRADORES GERENTES E CONTRATADOS. Ao contrário da responsabilidade da pessoa jurídica, que poderá tomar rumos mais restritivos, a responsabilidade penal dos diretores, administradores, membros dos conselhos de administração, de acionistas, integrantes de órgãos técnicos, auditores, gerentes, prepostos e mandatários, é sobremaneira ampliada, na hipótese de terem tido ciência da conduta criminosa em progressão na empresa, sem contudo terem impedido sua prática (quando poderiam agir para evitá-la). A matéria é tormentosa com relação à figura de auditores e advogados, a cujo sigilo em face a questões envolvendo seus clientes, estão obrigados por força de lei específica. Da mesma forma, os consultores técnicos ambientais, contratados para sanar irregularidades, justamente no interesse do meio ambiente, não poderão tornar-se “delatores” gratuitos, sob pena de verem seu campo de trabalho obstruído. Administradores, gerentes e encarregados, cientes da ocorrência de dano ambiental, por óbvio deverão comunicar o fato à empresa e tomar todas as medidas corretivas ao seu alcance, antes de sair em desabalada carreira para a delegacia mais próxima. A Lei 9.605/98, nesse caso, pode deixar à mercê da autoridade da esquina os dirigentes, consultores e empregados de grandes e respeitáveis empresas. Melhor seria adotar procedimentos padronizados e programas de prevenção e treinamento que documentem razoavelmente a conduta da empresa e seus empregados face às ocorrências diárias, reduzindo, assim, espaço para “deduções”, “suspeitas” e “suposições” tão a o gosto de parcela de nossos administradores públicos, delegados, juizes e promotores de justiça. O trabalho, portanto, será gratificante para empresas, seus gerentes e consultores, pois introduzirá métodos preventivos e procedimentos internos de defesa ambiental que, certamente, em que pese os custos financeiros e de implementação, elevarão o padrão de qualidade gerencial e do meio ambiente. Se há benefícios com o novo ordenamento legal, certamente o primeiro será este. 5. A RESPONSABILIDADE PENAL DA PESSOA JURÍDICA. A responsabilização penal, por óbvio deve ser condicionada à existência de dolo, isto é, vontade subjetiva de praticar o delito ou de assumir o risco, ou culpa – prática do delito por obra de negligência, imprudência ou imperícia do agente, sem no entanto, ocorrer intenção de ocasionar o dano. O aferimento do dolo e da culpa da pessoa jurídica é novidade para nossos órgãos de justiça e segurança. Nesse sentido, vale alertar que o processo investigativo irá desenvolver-se no sentido de apurar, objetivamente, os indícios de participação dos órgãos decisórios da empresa, na conduta criminosa imputada. Atas, protocolos, memorandos, circulares, manuais técnicos, planos de emergência e treinamento, poderão tornar-se objeto de investigação criminal, na busca de elementos de culpa da empresa nos delitos penais. Já a aferição da prova testemunhal será dificultada pela ingerência de conflitos de ordem trabalhista e pessoal, os quais, eventualmente, poderão viciar depoimentos de ex-empregados rancorosos, acionistas descontentes, ou mesmo cônjuges de diretores e proprietários em processo de separação. A matéria exigirá, dos órgãos públicos, adoção de medidas de controle para evitar abusos de autoridade e corrupção, e das empresas, procedimentos gerenciais e preventivos mais rigorosos. 5.1. Delito formal ou não ? A ameaça de uma sanção de ordem penal, tem obrigado empresas, que antes descuidavam dos seus custos para com a proteção ambiental (em desfavor de outras que destinavam recursos para a área), a investir no setor, tornando o mercado, desta forma, mais competitivo. Como leciona o velho mestre Gofredo da Silva Telles “numa sociedade onde há fracos e fortes, a liberdade excessiva escraviza, o direito liberta”. No entanto, parte de nossos administradores públicos, ao invés de buscar a implementação da Lei Penal Ambiental, reprimindo ocorrências de contaminação criminosa, gestão temerária de resíduos, e outras condutas de periculosidade real, passou a semear interpretações draconianas de tipos penais de menor potencial ofensivo constantes no diploma legal, ameaçando o mercado e produzindo a desconfiança dos empresários quanto à sua real utilidade. Um exemplo dessa equivocada estratégia oficial é a interpretação perversa que vem sendo dada ao artigo 60 da Lei de Crimes Ambientais. O dispositivo, da forma como vem sendo aplicado, está atormentando empresas, empresários, administradores e técnicos, além de pôr na alça de mira do Ministério Público, funcionários e autoridades encarregadas do cumprimento da lei. Tipifica o artigo 60 da Lei nº. 9.605 ser crime punível com detenção de um a seis meses e/ou multa “construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território nacional, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais, ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes”. Com efeito, não só administradores zelosos, como juristas de renome têm afirmado que o delito em questão “é de mera conduta”, ou seja, que se consuma pela simples atividade, ou tão somente pelo comportamento do agente, independente do resultado. “Basta ser surpreendido funcionando total ou parcialmente sem licença, para incorrer no delito”, dizem. Quanto mais claro for o entendimento do texto legal, mais efetiva será a aplicação da lei e menor a margem para contestação ou interpretações divergentes. O cidadão, da mesma forma como em relação às obras de engenharia, deve sentir segurança e estabilidade na estrutura legal que rege sua vida, mormente quando o assunto é de natureza penal. Posto isso, é de nosso entendimento que não poderia haver espaço para divagações quanto à natureza delitiva do ato de ampliar, reformar ou funcionar atividade potencialmente poluidora sem a devida licença. Ocorre que o delito do artigo 60 não é formal, nem mesmo de mera conduta. Primeiro porque não há, para a empresa, exigibilidade de conduta diversa à de se fazer existir. Seria o mesmo que obrigar o indivíduo a morrer por asfixia pelo fato de ter sido tipificado como delito o ato de respirar. Não há alternativa para a vida senão a morte, e tal não pode ser exigido da atividade econômica cujo objeto é lícito. Nesse sentido, o delito do artigo 60 da Lei 9.605 não pode se equiparar a tipificações “de mera conduta” como o ato de dirigir veículos sem habilitação ou portar arma sem licença. O indivíduo que incorra em um desses delitos poderia ter optado por tomar um táxi ao invés de dirigir ou simplesmente ter deixado a arma em casa ao invés de portá-la; o mesmo não se pode fazer com as empresas. 5.2. O que seria “potencialmente poluente” para a lei penal? É certo que o ato de poluir o ambiente põe em risco toda uma sociedade. Nesse sentido, é a degradação ambiental que se procura evitar com a edição de normas legais de restrição a atividades poluidoras. No entanto, o risco de produzir degradação ambiental pode não estar presente no mero ato de ampliação, reforma ou funcionamento sem licença de uma empresa, ainda que considerada potencialmente poluidora. Há uma sutileza legal que merece ser abordada: para a Lei Civil e Administrativa, basta a potencialidade poluente intrínseca à atividade industrial para ocorrer a exigibilidade da licença; já para a lei penal, a conduta delitiva está vinculada ao risco real e iminente de ocorrer a poluição. 5.3. As diferentes sanções e a finalidade da sanção penal. A sanção administrativa ambiental objetiva corrigir distorções e punir (às vezes com grande rigor) os infratores, trazendo-os à tutela dos órgãos de fiscalização. Nesse campo, pode o administrador, ao par da multa, conceder prazos e estabelecer condições, visando dar oportunidade ao infrator para corrigir a irregularidade. Pode, também, o administrador aplicar multas e sanções mais graves, até mesmo suspender as atividades do recalcitrante. A sanção administrativa, assim, é de natureza disciplinar e preventiva, com efeitos fiscais e econômicos. A sanção civil ambiental pode ser requerida por qualquer cidadão interessado, entidades civis e públicas ou pelo Ministério Público, sempre perante um órgão judiciário, que a decidirá por meio de amplo processo. A sanção civil ambiental pode traduzir-se na reparação do dano causado ao meio ambiente pelo poluidor, ou na obrigação deste adotar medidas de correção, prevenção, ou mesmo abster-se de agir ou funcionar. A responsabilidade civil do poluidor, como é notório, está vinculada ao fato ou ao risco do dano ambiental, independentemente de culpa. A sanção civil, assim, mesmo quando açambarcar os chamados danos morais, terá sempre efeitos econômicos. Já a sanção penal será decidida judicialmente no bojo de um processo criminal, mediante denúncia formulada pelo Ministério Público. Não é finalidade da sanção penal reparar o dano ou corrigir administrativamente a atitude do delinqüente. Por meio da pena o infrator expia sua culpa, recebe a reprovação social pelo seu ato. A pena, portanto, é de natureza pública, retributiva, visa produzir efeitos didáticos para a comunidade e o próprio criminoso, prevenindo a sociedade, mesmo quando envolve obrigações pecuniárias. O Estado, portanto, possui à sua disposição meios legais suficientes, de ordem administrativa e civil, para corrigir e ajustar condutas potencialmente lesivas ao meio ambiente, licenciadas ou não. O Poder Público deve, assim, recorrer à busca de uma sanção penal, somente quando e onde constatar efetiva periculosidade na conduta do infrator. 5.4. A conduta do agente como elemento do crime O risco de degradação ambiental deve ser assumido pelo agente para que ocorra relevância penal na sua ação. No caso da atividade potencialmente poluente, a relevância penal pode não existir se o agente estiver adotando as medidas necessárias para prevenir os riscos de degradação, e buscando a adequação legal junto à administração. Reza o artigo 225 da Constituição Federal, em seu parágrafo 3º, que pessoas físicas ou jurídicas se sujeitarão a sanções penais (ao par das sanções administrativas e civis) quando adotarem condutas e atividades “consideradas lesivas ao meio ambiente”. Esta lesividade portanto, deve ser real, sob pena de resumirem as sanções cabíveis ao campo administrativo e civil. O tipo penal do artigo 60 da lei n.º 9.605 requer conduta dolosa do agente, ou seja, o infrator deve agir com dolo – vontade subjetiva de praticar o delito ou assunção voluntária de um risco real de provocar dano ambiental com a atividade não licenciada (visando, por exemplo, benefícios econômicos). Há crime, ainda, quando o agente instala, reforma ou opera atividade ciente da incompatibilidade legal para com a atividade, circunstância que objetivamente impediria sua normalização. Fora desses requisitos não haveria razão para adoção de medidas penais posto estar o caso restrito ao âmbito das infrações administrativas e das medidas civis. 5.5. Circunstâncias objetivas a serem analisadas A maior parte das nossas indústrias estava, de há muito em funcionamento, quando da promulgação da Lei Penal Ambiental, em especial a chamada indústria pesada. Várias delas encontravam-se razoavelmente adaptadas aos padrões formais de emissão e destinação de resíduos, porém, defasadas tecnologicamente. Outras indústrias, ao tempo da edição da Lei, surpreendidas pela fiscalização, buscavam atender às exigências do licenciamento ambiental, e, nesse sentido, viam-se submetidas ao jogo de paciência, imposto pela demorada e burocratizada ação dos órgãos responsáveis pela concessão da licença. Uma grande parte das plantas em operação de nosso parque industrial, premidas, de um lado, pelas exigências dos órgãos ambientais e, de outro, pelo aperto no orçamento, buscavam (e ainda buscam) adequar o timing das mudanças e adaptações ao seu cronograma financeiro. Outra parcela de nosso parque industrial, refém da competitividade internacional, da premência de resultados de produtividade e dos prazos de financiamento, tratou de por em funcionamento sua maquinária recém-adquirida – via de regra menos poluidora e dentro de padrões de emissão mais restritivos que os nacionais, obviamente sem compatibilizar-se com a demorada ação de nossas agências ambientais, buscando a regularização da atividade a posteriori ou por meio de licenças provisórias (tais como a autorização provisória para “teste” do equipamento). Em nenhum momento, essas empresas deixaram de objetivar uma finalidade lícita para sua atividade. Nenhuma delas tem por objetivo poluir, mas, sim, produzir. Em todos esses casos, é notório que a distorção de comportamento tem origem no desaparelhamento dos órgãos ambientais, incapazes de responder à demanda de licenciamento nos prazos e condições de razoabilidade técnica e econômica. Ressalte-se que a razoabilidade e a eficiência constituem princípios da administração pública, embutidos no artigo 37 de nossa Constituição Federal de 1988. Aliás, nossos governantes reconhecem a distorção, tanto que não raro dedicam-se a produzir obras necessárias e meritórias sem obter o devido licenciamento ambiental, muitas vezes buscando a adequação legal quando consumada a obra. Alegam nossos administradores, em sua defesa, justamente a demora na obtenção da licença e a urgência dos cronogramas financeiros. O Ministério Público, titular da ação penal, ao examinar as circunstâncias da pendência em que se envolveu a empresa face ao licenciamento, deverá, portanto, antes de redigir ou não a denúncia, atentar para os “gaps” burocráticos obstaculizadores da pronta regularização do empreendimento (alguns preexistentes à lei ambiental), e compará-los aos fatores de ordem econômica e financeira, essenciais à sobrevivência da atividade em tela, para então identificar se o fato circunscreve-se às esferas administrativa e civil, ou descamba para o campo criminal. O mesmo, em grau mais amplo, e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deverá fazer o magistrado, no âmbito da ação penal. 6. STJ PERMITE QUE A PESSOA JURÍDICA RESPONDA POR CRIME AMBIENTAL No dia 06 de junho de 2005 foi noticiado pelo Jornal Valor Econômico (5), a primeira vez que um Tribunal Superior autorizou uma empresa a responder uma ação penal por crime contra o meio ambiente. O processo que envolve um posto de gasolina do município de Videira, em Santa Catarina, apura a sua responsabilidade pelo lançamento de óleo, graxa e outros produtos químicos no leito de um rio. Caso seja condenado, o posto poderá ser obrigado a prestar serviços à comunidade ou mesmo ter suas atividades suspensas. A inclusão da pessoa jurídica na denúncia foi permitida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao analisar um recurso do Ministério Público de Santa Catarina, responsável pela denúncia contra a empresa. A Corte entendeu que, além dos responsáveis pelo empreendimento, a pessoa jurídica também pode ser responsabilizada criminalmente. O Ministério Público recorreu ao STJ porque a primeira instância e o Tribunal de justiça do Estado rejeitaram a denúncia contra a empresa, aceitando-a apenas para os proprietários do estabelecimento. A possibilidade de empresas responderem a processos penais é algo controverso no Brasil, apesar da previsão estar na Constituição Federal e ainda na Lei n° 9.605/98, que trata dos crimes ambientais, enfrentando resistência, pois o conceito predominante é o de que o direito penal só se aplica para a restrição física de pessoas, o que não atingiria as empresas. Porém, o que a redução da capacidade econômica da pessoa jurídica é mais eficaz do que a pena contra a pessoa física. “Trata-se de uma condenação moral da empresa” (6), razão pela qual a decisão do STJ é importante, por ser o primeiro passo de um Tribunal Superior no sentido de autorizar essa criminalização. Nessa reportagem, o professor Eduardo Reale Ferrari ressalvou que “por muito tempo uma corrente de juristas defendeu que a Constituição Federal só autorizava as sanções administrativas para as pessoas jurídicas, numa mera interpretação do texto. Dez anos mais tarde, veio a Lei Crimes Ambientais, que regulamentou o artigo da Constituição que trazia a responsabilidade penal para as pessoas jurídicas. Segundo ele, a lei estabelece que, para ocorrer a responsabilidade penal da empresa, é necessário estar comprovado que o crime ambiental tenha decorrido de uma autorização do representante legal ou um colegiado da empresa. E ainda de um contrato de atividade que causou o dano”. (7) Por fim, podemos verificar a aplicação concreto e efetiva da Lei dos Crimes Ambientais, acostumada a existir apenas no plano formal no passado, o que não acarretava qualquer incidência ou conseqüência no plano real. Notas: 1 – PINHEIRO PEDRO, Antonio Fernando. A responsabilidade das empresas e dos administradores e a nova Lei de Crimes e Infrações Administrativas contra o Meio Ambiente. Disponível em [https://pinheiropedro.com.br] capturado em 19/06/2005. 2 – § 3º do Artigo 225 da Constituição Federal de 1988. 3 – § 5º do Artigo 173 da Constituição Federal de 1988. 4 – Artigo 3º da Lei nº. 9.605/98. 5 – Jornal Valor Econômico de 06 de junho de 2005. 6 – PINHEIRO PEDRO, Antonio Fernando. Entrevista concedida para o Jornal Valor Econômico de 06 de junho de 2005. 7 – FERRARI, Eduardo Reale. Entrevista concedida para o Jornal Valor Econômico de 06 de junho de 2005.

Por Antonio Fernando Pinheiro Pedro 1. NOTAS INTRODUTÓRIAS. 2. A TRIPLA RESPONSABILIDADE. 3. A RESPONSABILIDADE CIVIL DA PESSOA JURÍDICA. 4. A RESPONSABILIDADE PENAL DOS ADMINISTRADORES GERENTES E CONTRATADOS. 5. A RESPONSABILIDADE PENAL DA PESSOA JURÍDICA. 5.1. Delito formal ou não? 5.2. O que seria “potencialmente poluente” para a lei penal? 5.3. As diferentes sanções e a finalidade da sanção penal. 5.4. A conduta do agente como elemento do crime. 5.5. Circunstâncias objetivas a serem analisadas. 6. STJ PERMITE QUE A PESSOA JURÍDICA RESPONDA POR CRIME AMBIENTAL. 1. NOTAS INTRODUTÓRIAS (1) A pessoa jurídica poderá ser processada criminalmente por conduta lesiva ao meio ambiente. Com o advento da Lei nº. 9.605 de 13 de fevereiro de 1998, o panorama do direito brasileiro mudou definitivamente, ao dispor sobre a possibilidade de criminalização da conduta da pessoa jurídica, e, inovar a forma de apenamento às condutas danosas ao meio ambiente. Sancionada em meio a muitas críticas de setores ambientalistas, sofreu trinta e sete cortes e modificações efetuadas por emendas supressivas na Câmara dos Deputados, e dez vetos presidenciais, a Lei que dispõe sobre Crimes e Infrações Administrativas contra o Meio Ambiente resultou em um texto enxuto, porém, sujeito a interpretações confusas e dependente de regulamentação em alguns casos, dificultando sua imediata implementação e conseqüente adaptação pelas empresas. A Lei nº. 9.605/98 dispôs sobre questões processuais em meio a normas substantivas, isto é, que tratam da tipificação das infrações, fato que revela descuido com a boa técnica legislativa. Seu texto, também, deixa dúvidas quanto à sua aplicabilidade e alcance, razão pela qual é recomendável a leitura atenta pelos interessados. No entanto, como uma abordagem introdutória, se faz necessário o questionamento sobre a questão da responsabilidade dos dirigentes e funcionários da empresa, sua responsabilidade civil, para depois, adentrarmos a questão da responsabilidade penal das empresas, enquanto pessoa jurídica. 2. A TRIPLA RESPONSABILIDADE. A Constituição Federal de 1988 consagrou expressamente, a possibilidade de aplicar as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente, sujeitas aos infratores, pessoas físicas ou jurídicas, as sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. (2) Disposição consagrada também dentro do Capítulo da Ordem Econômica e Financeira, prevendo a possibilidade “sem prejuízo da responsabilidade individual dos dirigentes da pessoa jurídica, estabelecerá a responsabilidade desta, sujeitando-a às punições compatíveis com sua natureza, nos atos praticados contra a ordem econômica e financeira e contra a economia popular. (3) A Lei de Crimes Ambientais foi criada em conformidade com os dispositivos Constitucionais, e inseriu nas suas “Disposições Gerais” as hipóteses de responsabilização das pessoas jurídicas, dos seus diretores e funcionários. Assim é que as empresas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente quando a infração seja cometida “por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade”. (4) Portanto, a responsabilização criminal das pessoas jurídicas encontra fundamento tanto constitucional, quanto infraconstitucional que justifique a aplicação da tripla responsabilidade pelos danos causados ao meio ambiente. 3. A RESPONSABILIDADE CIVIL DA PESSOA JURÍDICA. A regra do art. 3º da Lei de Crimes Ambientais, em que pese correta para a aferição da responsabilidade penal, não o é para a responsabilidade civil das empresas. De fato, o dispositivo poderá propiciar intermináveis debates nos órgão judiciários, quanto à aplicabilidade, à pessoas jurídicas, do princípio da responsabilidade civil objetiva (independentemente de culpa) do poluidor, imposta pelo art. 14 da Lei 6.938/81. Isto porque o referido dispositivo legal, ao dispor como se dará a responsabilização da pessoa jurídica (…”conforme o disposto nesta Lei”…) condiciona o liame de causalidade, isto é, a relação de causa e efeito que leva à responsabilidade pelo dano, à prévia existência de “decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade”. Com efeito, a Lei nº. 9.605/98 cria regra mais restrita ainda que a do vetusto Código Civil de 2002, pois que este, no seu artigo 932, inciso III, dispõe que as empresas são responsáveis pela reparação civil quando o dano for praticado por “o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele;”. A Lei Penal Ambiental contraria, também, o parágrafo 1º do artigo 14 da Lei 6.938/81 (Lei de Política Nacional do Meio Ambiente), que estabelece que o Poluidor (pessoa física ou jurídica) é obrigado, “independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade”. Ora, a regra contida no art. 3º da Lei nº. 9.605/98, de caráter especial, regula como as pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente, pelas infrações e danos ao meio ambiente, e, remete esta responsabilização à figura da vontade do seu representante legal ou contratual ou do órgão colegiado decisório, diferindo específicamente do disposto no Código Civil (que abrange a responsabilidade por atos dos empregados) e do disposto na Lei de Política Nacional do Meio Ambiente (responsabilidade independente de culpa). Como a regra geral imposta pelo art. 2º da Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro determina que a lei posterior revoga a anterior “quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior”, verificamos que, em que pese ter o Presidente da República enfatizado que o art. 14 da Lei 6.938/81 ainda vigorava, como motivação para o veto ao art. 5º. da nova lei (que estabelecia a responsabilidade civil objetiva), essa “boa intenção” não se confunde com a mens legis remanescente no diploma, que abrirá um flanco para uma jurisprudência (decisões judiciais) conservadora e excludente. 4. A RESPONSABILIDADE PENAL DOS ADMINISTRADORES GERENTES E CONTRATADOS. Ao contrário da responsabilidade da pessoa jurídica, que poderá tomar rumos mais restritivos, a responsabilidade penal dos diretores, administradores, membros dos conselhos de administração, de acionistas, integrantes de órgãos técnicos, auditores, gerentes, prepostos e mandatários, é sobremaneira ampliada, na hipótese de terem tido ciência da conduta criminosa em progressão na empresa, sem contudo terem impedido sua prática (quando poderiam agir para evitá-la). A matéria é tormentosa com relação à figura de auditores e advogados, a cujo sigilo em face a questões envolvendo seus clientes, estão obrigados por força de lei específica. Da mesma forma, os consultores técnicos ambientais, contratados para sanar irregularidades, justamente no interesse do meio ambiente, não poderão tornar-se “delatores” gratuitos, sob pena de verem seu campo de trabalho obstruído. Administradores, gerentes e encarregados, cientes da ocorrência de dano ambiental, por óbvio deverão comunicar o fato à empresa e tomar todas as medidas corretivas ao seu alcance, antes de sair em desabalada carreira para a delegacia mais próxima. A Lei 9.605/98, nesse caso, pode deixar à mercê da autoridade da esquina os dirigentes, consultores e empregados de grandes e respeitáveis empresas. Melhor seria adotar procedimentos padronizados e programas de prevenção e treinamento que documentem razoavelmente a conduta da empresa e seus empregados face às ocorrências diárias, reduzindo, assim, espaço para “deduções”, “suspeitas” e “suposições” tão a o gosto de parcela de nossos administradores públicos, delegados, juizes e promotores de justiça. O trabalho, portanto, será gratificante para empresas, seus gerentes e consultores, pois introduzirá métodos preventivos e procedimentos internos de defesa ambiental que, certamente, em que pese os custos financeiros e de implementação, elevarão o padrão de qualidade gerencial e do meio ambiente. Se há benefícios com o novo ordenamento legal, certamente o primeiro será este. 5. A RESPONSABILIDADE PENAL DA PESSOA JURÍDICA. A responsabilização penal, por óbvio deve ser condicionada à existência de dolo, isto é, vontade subjetiva de praticar o delito ou de assumir o risco, ou culpa – prática do delito por obra de negligência, imprudência ou imperícia do agente, sem no entanto, ocorrer intenção de ocasionar o dano. O aferimento do dolo e da culpa da pessoa jurídica é novidade para nossos órgãos de justiça e segurança. Nesse sentido, vale alertar que o processo investigativo irá desenvolver-se no sentido de apurar, objetivamente, os indícios de participação dos órgãos decisórios da empresa, na conduta criminosa imputada. Atas, protocolos, memorandos, circulares, manuais técnicos, planos de emergência e treinamento, poderão tornar-se objeto de investigação criminal, na busca de elementos de culpa da empresa nos delitos penais. Já a aferição da prova testemunhal será dificultada pela ingerência de conflitos de ordem trabalhista e pessoal, os quais, eventualmente, poderão viciar depoimentos de ex-empregados rancorosos, acionistas descontentes, ou mesmo cônjuges de diretores e proprietários em processo de separação. A matéria exigirá, dos órgãos públicos, adoção de medidas de controle para evitar abusos de autoridade e corrupção, e das empresas, procedimentos gerenciais e preventivos mais rigorosos. 5.1. Delito formal ou não ? A ameaça de uma sanção de ordem penal, tem obrigado empresas, que antes descuidavam dos seus custos para com a proteção ambiental (em desfavor de outras que destinavam recursos para a área), a investir no setor, tornando o mercado, desta forma, mais competitivo. Como leciona o velho mestre Gofredo da Silva Telles “numa sociedade onde há fracos e fortes, a liberdade excessiva escraviza, o direito liberta”. No entanto, parte de nossos administradores públicos, ao invés de buscar a implementação da Lei Penal Ambiental, reprimindo ocorrências de contaminação criminosa, gestão temerária de resíduos, e outras condutas de periculosidade real, passou a semear interpretações draconianas de tipos penais de menor potencial ofensivo constantes no diploma legal, ameaçando o mercado e produzindo a desconfiança dos empresários quanto à sua real utilidade. Um exemplo dessa equivocada estratégia oficial é a interpretação perversa que vem sendo dada ao artigo 60 da Lei de Crimes Ambientais. O dispositivo, da forma como vem sendo aplicado, está atormentando empresas, empresários, administradores e técnicos, além de pôr na alça de mira do Ministério Público, funcionários e autoridades encarregadas do cumprimento da lei. Tipifica o artigo 60 da Lei nº. 9.605 ser crime punível com detenção de um a seis meses e/ou multa “construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território nacional, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais, ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes”. Com efeito, não só administradores zelosos, como juristas de renome têm afirmado que o delito em questão “é de mera conduta”, ou seja, que se consuma pela simples atividade, ou tão somente pelo comportamento do agente, independente do resultado. “Basta ser surpreendido funcionando total ou parcialmente sem licença, para incorrer no delito”, dizem. Quanto mais claro for o entendimento do texto legal, mais efetiva será a aplicação da lei e menor a margem para contestação ou interpretações divergentes. O cidadão, da mesma forma como em relação às obras de engenharia, deve sentir segurança e estabilidade na estrutura legal que rege sua vida, mormente quando o assunto é de natureza penal. Posto isso, é de nosso entendimento que não poderia haver espaço para divagações quanto à natureza delitiva do ato de ampliar, reformar ou funcionar atividade potencialmente poluidora sem a devida licença. Ocorre que o delito do artigo 60 não é formal, nem mesmo de mera conduta. Primeiro porque não há, para a empresa, exigibilidade de conduta diversa à de se fazer existir. Seria o mesmo que obrigar o indivíduo a morrer por asfixia pelo fato de ter sido tipificado como delito o ato de respirar. Não há alternativa para a vida senão a morte, e tal não pode ser exigido da atividade econômica cujo objeto é lícito. Nesse sentido, o delito do artigo 60 da Lei 9.605 não pode se equiparar a tipificações “de mera conduta” como o ato de dirigir veículos sem habilitação ou portar arma sem licença. O indivíduo que incorra em um desses delitos poderia ter optado por tomar um táxi ao invés de dirigir ou simplesmente ter deixado a arma em casa ao invés de portá-la; o mesmo não se pode fazer com as empresas. 5.2. O que seria “potencialmente poluente” para a lei penal? É certo que o ato de poluir o ambiente põe em risco toda uma sociedade. Nesse sentido, é a degradação ambiental que se procura evitar com a edição de normas legais de restrição a atividades poluidoras. No entanto, o risco de produzir degradação ambiental pode não estar presente no mero ato de ampliação, reforma ou funcionamento sem licença de uma empresa, ainda que considerada potencialmente poluidora. Há uma sutileza legal que merece ser abordada: para a Lei Civil e Administrativa, basta a potencialidade poluente intrínseca à atividade industrial para ocorrer a exigibilidade da licença; já para a lei penal, a conduta delitiva está vinculada ao risco real e iminente de ocorrer a poluição. 5.3. As diferentes sanções e a finalidade da sanção penal. A sanção administrativa ambiental objetiva corrigir distorções e punir (às vezes com grande rigor) os infratores, trazendo-os à tutela dos órgãos de fiscalização. Nesse campo, pode o administrador, ao par da multa, conceder prazos e estabelecer condições, visando dar oportunidade ao infrator para corrigir a irregularidade. Pode, também, o administrador aplicar multas e sanções mais graves, até mesmo suspender as atividades do recalcitrante. A sanção administrativa, assim, é de natureza disciplinar e preventiva, com efeitos fiscais e econômicos. A sanção civil ambiental pode ser requerida por qualquer cidadão interessado, entidades civis e públicas ou pelo Ministério Público, sempre perante um órgão judiciário, que a decidirá por meio de amplo processo. A sanção civil ambiental pode traduzir-se na reparação do dano causado ao meio ambiente pelo poluidor, ou na obrigação deste adotar medidas de correção, prevenção, ou mesmo abster-se de agir ou funcionar. A responsabilidade civil do poluidor, como é notório, está vinculada ao fato ou ao risco do dano ambiental, independentemente de culpa. A sanção civil, assim, mesmo quando açambarcar os chamados danos morais, terá sempre efeitos econômicos. Já a sanção penal será decidida judicialmente no bojo de um processo criminal, mediante denúncia formulada pelo Ministério Público. Não é finalidade da sanção penal reparar o dano ou corrigir administrativamente a atitude do delinqüente. Por meio da pena o infrator expia sua culpa, recebe a reprovação social pelo seu ato. A pena, portanto, é de natureza pública, retributiva, visa produzir efeitos didáticos para a comunidade e o próprio criminoso, prevenindo a sociedade, mesmo quando envolve obrigações pecuniárias. O Estado, portanto, possui à sua disposição meios legais suficientes, de ordem administrativa e civil, para corrigir e ajustar condutas potencialmente lesivas ao meio ambiente, licenciadas ou não. O Poder Público deve, assim, recorrer à busca de uma sanção penal, somente quando e onde constatar efetiva periculosidade na conduta do infrator. 5.4. A conduta do agente como elemento do crime O risco de degradação ambiental deve ser assumido pelo agente para que ocorra relevância penal na sua ação. No caso da atividade potencialmente poluente, a relevância penal pode não existir se o agente estiver adotando as medidas necessárias para prevenir os riscos de degradação, e buscando a adequação legal junto à administração. Reza o artigo 225 da Constituição Federal, em seu parágrafo 3º, que pessoas físicas ou jurídicas se sujeitarão a sanções penais (ao par das sanções administrativas e civis) quando adotarem condutas e atividades “consideradas lesivas ao meio ambiente”. Esta lesividade portanto, deve ser real, sob pena de resumirem as sanções cabíveis ao campo administrativo e civil. O tipo penal do artigo 60 da lei n.º 9.605 requer conduta dolosa do agente, ou seja, o infrator deve agir com dolo – vontade subjetiva de praticar o delito ou assunção voluntária de um risco real de provocar dano ambiental com a atividade não licenciada (visando, por exemplo, benefícios econômicos). Há crime, ainda, quando o agente instala, reforma ou opera atividade ciente da incompatibilidade legal para com a atividade, circunstância que objetivamente impediria sua normalização. Fora desses requisitos não haveria razão para adoção de medidas penais posto estar o caso restrito ao âmbito das infrações administrativas e das medidas civis. 5.5. Circunstâncias objetivas a serem analisadas A maior parte das nossas indústrias estava, de há muito em funcionamento, quando da promulgação da Lei Penal Ambiental, em especial a chamada indústria pesada. Várias delas encontravam-se razoavelmente adaptadas aos padrões formais de emissão e destinação de resíduos, porém, defasadas tecnologicamente. Outras indústrias, ao tempo da edição da Lei, surpreendidas pela fiscalização, buscavam atender às exigências do licenciamento ambiental, e, nesse sentido, viam-se submetidas ao jogo de paciência, imposto pela demorada e burocratizada ação dos órgãos responsáveis pela concessão da licença. Uma grande parte das plantas em operação de nosso parque industrial, premidas, de um lado, pelas exigências dos órgãos ambientais e, de outro, pelo aperto no orçamento, buscavam (e ainda buscam) adequar o timing das mudanças e adaptações ao seu cronograma financeiro. Outra parcela de nosso parque industrial, refém da competitividade internacional, da premência de resultados de produtividade e dos prazos de financiamento, tratou de por em funcionamento sua maquinária recém-adquirida – via de regra menos poluidora e dentro de padrões de emissão mais restritivos que os nacionais, obviamente sem compatibilizar-se com a demorada ação de nossas agências ambientais, buscando a regularização da atividade a posteriori ou por meio de licenças provisórias (tais como a autorização provisória para “teste” do equipamento). Em nenhum momento, essas empresas deixaram de objetivar uma finalidade lícita para sua atividade. Nenhuma delas tem por objetivo poluir, mas, sim, produzir. Em todos esses casos, é notório que a distorção de comportamento tem origem no desaparelhamento dos órgãos ambientais, incapazes de responder à demanda de licenciamento nos prazos e condições de razoabilidade técnica e econômica. Ressalte-se que a razoabilidade e a eficiência constituem princípios da administração pública, embutidos no artigo 37 de nossa Constituição Federal de 1988. Aliás, nossos governantes reconhecem a distorção, tanto que não raro dedicam-se a produzir obras necessárias e meritórias sem obter o devido licenciamento ambiental, muitas vezes buscando a adequação legal quando consumada a obra. Alegam nossos administradores, em sua defesa, justamente a demora na obtenção da licença e a urgência dos cronogramas financeiros. O Ministério Público, titular da ação penal, ao examinar as circunstâncias da pendência em que se envolveu a empresa face ao licenciamento, deverá, portanto, antes de redigir ou não a denúncia, atentar para os “gaps” burocráticos obstaculizadores da pronta regularização do empreendimento (alguns preexistentes à lei ambiental), e compará-los aos fatores de ordem econômica e financeira, essenciais à sobrevivência da atividade em tela, para então identificar se o fato circunscreve-se às esferas administrativa e civil, ou descamba para o campo criminal. O mesmo, em grau mais amplo, e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deverá fazer o magistrado, no âmbito da ação penal. 6. STJ PERMITE QUE A PESSOA JURÍDICA RESPONDA POR CRIME AMBIENTAL No dia 06 de junho de 2005 foi noticiado pelo Jornal Valor Econômico (5), a primeira vez que um Tribunal Superior autorizou uma empresa a responder uma ação penal por crime contra o meio ambiente. O processo que envolve um posto de gasolina do município de Videira, em Santa Catarina, apura a sua responsabilidade pelo lançamento de óleo, graxa e outros produtos químicos no leito de um rio. Caso seja condenado, o posto poderá ser obrigado a prestar serviços à comunidade ou mesmo ter suas atividades suspensas. A inclusão da pessoa jurídica na denúncia foi permitida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao analisar um recurso do Ministério Público de Santa Catarina, responsável pela denúncia contra a empresa. A Corte entendeu que, além dos responsáveis pelo empreendimento, a pessoa jurídica também pode ser responsabilizada criminalmente. O Ministério Público recorreu ao STJ porque a primeira instância e o Tribunal de justiça do Estado rejeitaram a denúncia contra a empresa, aceitando-a apenas para os proprietários do estabelecimento. A possibilidade de empresas responderem a processos penais é algo controverso no Brasil, apesar da previsão estar na Constituição Federal e ainda na Lei n° 9.605/98, que trata dos crimes ambientais, enfrentando resistência, pois o conceito predominante é o de que o direito penal só se aplica para a restrição física de pessoas, o que não atingiria as empresas. Porém, o que a redução da capacidade econômica da pessoa jurídica é mais eficaz do que a pena contra a pessoa física. “Trata-se de uma condenação moral da empresa” (6), razão pela qual a decisão do STJ é importante, por ser o primeiro passo de um Tribunal Superior no sentido de autorizar essa criminalização. Nessa reportagem, o professor Eduardo Reale Ferrari ressalvou que “por muito tempo uma corrente de juristas defendeu que a Constituição Federal só autorizava as sanções administrativas para as pessoas jurídicas, numa mera interpretação do texto. Dez anos mais tarde, veio a Lei Crimes Ambientais, que regulamentou o artigo da Constituição que trazia a responsabilidade penal para as pessoas jurídicas. Segundo ele, a lei estabelece que, para ocorrer a responsabilidade penal da empresa, é necessário estar comprovado que o crime ambiental tenha decorrido de uma autorização do representante legal ou um colegiado da empresa. E ainda de um contrato de atividade que causou o dano”. (7) Por fim, podemos verificar a aplicação concreto e efetiva da Lei dos Crimes Ambientais, acostumada a existir apenas no plano formal no passado, o que não acarretava qualquer incidência ou conseqüência no plano real. Notas: 1 – PINHEIRO PEDRO, Antonio Fernando. A responsabilidade das empresas e dos administradores e a nova Lei de Crimes e Infrações Administrativas contra o Meio Ambiente. Disponível em [https://pinheiropedro.com.br] capturado em 19/06/2005. 2 – § 3º do Artigo 225 da Constituição Federal de 1988. 3 – § 5º do Artigo 173 da Constituição Federal de 1988. 4 – Artigo 3º da Lei nº. 9.605/98. 5 – Jornal Valor Econômico de 06 de junho de 2005. 6 – PINHEIRO PEDRO, Antonio Fernando. Entrevista concedida para o Jornal Valor Econômico de 06 de junho de 2005. 7 – FERRARI, Eduardo Reale. Entrevista concedida para o Jornal Valor Econômico de 06 de junho de 2005.


